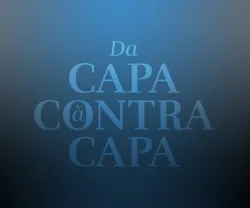"O caminho mais perigoso", uma viagem contada pelo jornalista Paulo Moura
Há muitas maneiras de dar a volta ao mundo. A mais natural evitaria os lugares perigosos. Mas seria a mais justa? Percorrer os lugares calmos e seguros do planeta seria a melhor forma de o conhecer? Provavelmente, não. Um guarda nocturno, na sua ronda para garantir que todos dormem bem na vizinhança, não pode abster-se de vasculhar os recantos mais sombrios do bairro. Por motivos idênticos, nenhum jornalista consegue fazer carreira dedicando-se exclusivamente às boas notícias. E o mesmo se pode dizer do peregrino e do turista honesto.
Esta viagem vai portanto contra todas as recomendações de embaixadas, serviços de informações e agências turísticas. É uma volta ao mundo pelas paragens mais suspeitas. Pelas zonas onde as coisas podem correr mal, onde o perigo espreita. Uma verdadeira viagem de aventura.
A Catalunha é um símbolo de ruptura na estabilidade europeia. No referendo de 1 de Outubro do ano passado, convocado pelo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, o sim à independência ganhou com 90 por cento dos votos, embora só tivesse votado 43 por cento da população recenseada.
O Governo de Madrid e o Tribunal Constitucional consideraram o referendo ilegal, mas o parlamento regional declarou unilateralmente a independência, a 27 de Outubro, num ambiente de medidas repressivas violentas lançadas por Madrid, que tentou impedir a realização da votação e mandou prender os principais líderes independentistas.
Puigdemont refugiou-se em Bruxelas, e foi de lá que fez campanha para as eleições convocadas por Madrid. O bloco independentista conseguiu uma maioria parlamentar. Puigdemont prepara-se para tomar posse como chefe do governo, por Skype.
Após o precedente catalão, o País Basco e a Galiza, pelo menos, podem ser tentados a fazer o mesmo. E a atrair outras nações europeias para caminho idêntico. Fala-se em “balcanização da Europa”, e vêm à memória os 51 anos e mais de 800 mortos da luta armada da ETA na própria Espanha, ou do IRA na Irlanda do Norte, que durou mais de 20 anos e matou 3.500 pessoas.
O Brexit, decidido por referendo a 23 de Junho de 2016 com 51,8 por cento dos votos, abriu um precedente de desintegração na União Europeia. O Reino Unido foi um membro relutante desde o início, em 1957. Já tinha realizado um referendo sobre a permanência na CEE, em 1975, em que escolheu ficar. Mas o primeiro-ministro conservador David Cameron decidiu fazer a vontade aos eurocépticos, como promessa eleitoral.
O resultado seria contrário à sua previsão, e foi Theresa May quem veio concretizar o divórcio, que muitos agora admitem poder ter sido um erro, influenciado pelo medo dos imigrantes e refugiados. Além das consequências negativas na economia, o Brexit, sendo a primeira deserção na UE desde o início, inverteu o sentido da construção europeia: se até aqui ela se definia pelo poder de atracção, agora, as forças centrífugas assumiram o protagonismo.
Para sentirmos o peso desta atmosfera, a nossa viagem pode prosseguir, num périplo rápido, pela França, onde a líder da Frente Nacional quase ganhou as eleições presidenciais do ano passado, e pela Itália, onde será oportuno chegarmos em inícios de Março, para assistir às eleições legislativas.
O Movimento Cinco Estrelas, do comediante Beppe Grillo, está à frente nas sondagens. Anti-Europa e anti-imigração, pode vir a coligar-se com os xenófobos da Liga Norte, para governar o país. O mal menor poderá ser, em alternativa, uma coligação encabeçada por Silvio Berlusconi, aliado à extrema-direita.
A nossa etapa ficará completa com um salto à Holanda e outro à Polónia e à Hungria, para tomar o pulso ao anti-europeísmo, à intolerância e à desintegração dos próprios valores políticos europeus. O autoritarismo e tiques fascizantes dos governos de Varsóvia e de Budapeste são a face visível e triste da perda de autoridade moral, política e económica da Europa no mundo. Ao deixar todo o protagonismo nas mãos de Washington, Pequim e Moscovo, essa desistência é, ela própria, um poderoso factor de insegurança para o futuro próximo.
É claro que é uma ilusão pensar que podemos identificar os perigos do futuro. A História não se consegue prever. No seu mais recente livro, “A Cegueira”, o historiador francês Marc Ferro dá vários exemplos de acontecimentos importantes que não foram antecipados por ninguém. Por exemplo, o Maio de 68. Ou o triunfo económico da China. Quem anteviu a revolução iraniana, de 1979? E o 11 de Setembro e a Al Qaeda? Ou as Primaveras Árabes?
Todos esses acontecimentos, tão férteis de consequências, foi como se tivessem surgido do nada, fora dos elos causais da História. Mas mesmo quando estamos na posse de todos os dados para fazer um prognóstico, falhamos. É o caso do surgimento do terrorismo islamista no Iraque, após a invasão americana e consequente destruição das estruturas sunitas. Pois não parece agora evidente que iria acontecer?
Segundo Marc Ferro, até os acontecimentos se desenrolarem perante os nossos olhos, é enorme a nossa capacidade para não ver. Cita o caso dos alemães em Novembro de 1918, quando acreditam que ganharam a guerra. Mas não é difícil pensarmos noutros exemplos.
A etapa deve incluir uma digressão pelas regiões do Donbass, no leste da Ucrânia, e se possível, pela Crimeia, hoje sob administração russa. A revolução na praça Maidan, em 2013, começou com protestos que exigiam uma maior aproximação à UE, depois de o presidente pró-russo ter anunciado a suspensão de um acordo de aproximação a Bruxelas. Viktor Ianukovitch acabou por se demitir e fugir para a Rússia, após ter reprimido violentamente as manifestações.
Sob o pretexto de que o novo governo de Kiev era dominado por fascistas, Moscovo decidiu invadir a província ucraniana da Crimeia, alegadamente para proteger a população maioritariamente russa. Após um referendo fraudulento, anexou o território. E prossegui a ofensiva militar nas zonas ucranianas fronteiriças com a Rússia, sob o disfarce de uma suposta insurreição separatista. Milícias pró-russas dirigidas e compostas maioritariamente por russos combatem as forças ucranianas em Donetsk e Luhansk, que se auto-declararam Repúblicas Populares.
Apesar de ter sido assinado um cessar-fogo, a guerra, que já fez 10 mil mortos, prossegue, com desfecho imprevisível. Apesar das sanções internacionais, ninguém afasta a possibilidade de os russos virem a anexar de facto estes territórios, ou toda a Ucrânia, caso o governo de Kiev entre em colapso ou for tomado pela extrema-direita.
Vladimir Putin será reeleito nas eleições de Março, à falta de oposição. O possível candidato alternativo, Alexei Navalni, foi convenientemente preso, por alegada corrupção, após ter feito acusações e organizado manifestações contra a corrupção governamental.
Putin pretende lavar a sua imagem com a organização do Mundial de Futebol, em Junho, embora o campeonato esteja já envolto em escândalos de corrupção e subornos na construção dos estádios.
O facto de o presidente entrar, segundo a Constituição, no seu último mandato faz temer as manigâncias que encontrará para se perpetuar no poder ou para afirmar o poder da Rússia no mundo. O seu envolvimento na guerra da Síria é um sinal claro das ambições de Moscovo.
Desce 1945 que se fala no perigo iminente de uma terceira guerra mundial. Não têm faltado rastilhos e cenários apocalípticos. O que não se vislumbra é a linha de fractura. Quem seriam os antagonistas? Na Guerra Fria, os campos eram claros – comunistas versus capitalistas – e ambos tinham boas razões para uma guerra, mas houve um factor de dissuasão: o terror nuclear.
Hoje, as armas atómicas não parecem embaraçar os líderes mundiais. O que lhes falta são argumentos. Uma guerra mundial? De quem contra quem? Capitalistas contra comunistas? Democracias contra ditaduras? Conservadores contra liberais? Moderados contra radicais? Muçulmanos contra cristãos? Xiitas contra sunitas? Ricos contra pobres? Ocidente contra oriente? Norte contra Sul?
Consideremos uma visita à Geórgia como um desvio integrado nesta etapa. O apoio russo aos movimentos separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia tem mantido a tensão na zona, e atrasado o processo de integração da Geórgia na NATO. Mas forças americanas foram enviadas para o país, e se há pontos de ignição para o deflagrar de um confronto entre a NATO e a Rússia, este é um deles.
Muitos historiadores têm lembrado as semelhanças entre o período actual e o que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Max Hastings, num livro publicado em 2013, “Catástrofe”, cita o escritor austríaco Carl von Lang como tendo escrito, no inicio de 1914: “Paira no ar a sensação de que qualquer coisa está para acontecer, só não sabemos é quando. Talvez consigamos ver muitos mais anos de paz, mas é igualmente possível que durante a próxima noite aconteça uma tremenda reviravolta”. Em Julho desse ano começava a guerra.
Nesse início do século XX, tal como neste princípio do XXI, tinha havido avanços tecnológicos formidáveis. Vulgarizaram-se os telefones, os gramofones, os automóveis, o cinema e até os aviões. Surgiu a teoria da relatividade e a Psicanálise. Para um cidadão de classe média do mundo civilizado, a vida nunca tinha sido tão fácil.
E, no entanto, havia essa sensação de ter chegado a um limite. As coisas não poderiam continuar como estavam. Sintoma desse mal-estar eram os anarquistas, que lançavam ataques terroristas, quase sempre suicidas, por todo o lado, à semelhança dos jihadistas de hoje. Mas a guerra foi inevitável. E depois outra, muito mais mortífera, transformando o século XX, como observou Niall Ferguson na obra “A Guerra do Mundo”, de 2006, no mais letal de toda a História humana.
Não por haver armas mais poderosas, nem por terem surgido ideologias mais totalitárias e fanáticas, mas simplesmente, segundo o historiador escocês, porque havia mais vontade de matar. Talvez a lógica histórica vá nesse sentido, transformando o próximo conflito mundial numa tragédia de proporções que nem podemos imaginar.
Iniciemos aqui uma rápida expedição africana. As pátrias magrebinas da Primavera Árabe afastaram-se dos holofotes mediáticos, para darem lugar, alhures, às suas próprias e terríveis consequências. O Egipto voltou rapidamente à ditadura militar que a praça Tahrir tinha derrubado com “panache”.
Mas é agora também um foco de instabilidade provocado pelo terrorismo do Estado Islâmico. Um ataque a uma mesquita na península do Sinai provocou, em Novembro, mais de 300 mortos. Tudo indica que a região será uma das novas moradas da organização jihadista.
Na Líbia, já o é. Após a guerra civil de 2011, os rebeldes que derrubaram a ditadura de Mohamar Khadafi não se conseguiram entender, acabando por dividir o território em zonas hostis. O governo em Tripoli é dominado pela Irmandade Muçulmana, e combate o governo de Tobruk, apoiado pelo Egipto, o de Benghazi, chefiado pelos radicais da Ansar al-Sharia, e a zona controlada pelo EI.
O país é considerado um estado falhado, e uma das consequências são os abusos e o tráfico de escravos de que são vítimas os imigrantes subsaarianos em trânsito. A Líbia pode tornar-se na próxima grande tragédia humanitária mundial, pois é hoje a principal placa giratória deste fluxo, com cerca de 1 milhão de migrantes no país, a tentarem chegar à Europa a um ritmo de 150 mil por ano.
Depois de uma passagem pela Tunísia, único país onde a Primavera Árabe não redundou num desastre, e onde agora a população voltou às ruas para protestar contra a austeridade, rumemos ao deserto.
Pouco depois de se ter tornado independente, em 2011, a República do Sudão do Sul entrou em guerra civil. O conflito, que já provocou 10 mil mortos e mais de um milhão de desalojados, a prática de massacres e de violação de mulheres, tem uma forte componente étnica, opondo os Dinka, representados no governo de Juba, aos Nuer. Os primeiros são predominantemente agricultores, os segundos, pastores, numa contenda onde o avanço do deserto, reduzindo as áreas de pastagens, desempenha um papel significativo.
Este, à semelhança do que deflagrou no Darfur, desde 2003 (e que continua, com um saldo de 400 mil mortos e 2 milhões de desalojados), no Sudão do Norte, é um dos conflitos aos quais não são alheias as alterações climáticas.
Se rumarmos a Sul, acompanhando os refugiados que atravessam a fronteira em direcção à cidade congolesa de Aba, junto ao parque natural de La Garamba, aproximamo-nos de outra zona perigosa. Uma das mais mortíferas do mundo. A guerra do Congo, que começou em 1998, na sequência do genocídio do Ruanda e envolveu oito países (entre os quais, Angola) e 25 exércitos, matou mais de 5 milhões de pessoas até 2008.
Foi conflito mais mortífero desde a II Guerra Mundial. Mas não terminou. Os combates entre o governo de Kinshasa e várias milícias rebeldes produzem diariamente um inferno de massacres, torturas, violações, abuso de crianças, escravatura, canibalismo.
E o grande motivo desta violência é a disputa pelas zonas ricas em coltan, um mineral, composto de columbita e tantalita, indispensável no fabrico de telemóveis, computadores e outros dispositivos de alta tecnologia, como os drones, e de cujas reservas mundiais a República Democrática do Congo possui 80 por cento.
Os vários grupos armados lutam pelo controlo das zonas mineiras e negoceiam directamente com as grandes empresas tecnológicas ocidentais. Apesar de vários acordos e intervenções da ONU, não há fim à vista para esta guerra. A barbárie no Congo parece ser directamente proporcional à procura de smartphones.
Antes de terminar a etapa, uma ligeira incursão a leste, para ambientar o viajante ao destino seguinte. A violência de motivação religiosa na Nigéria é um eloquente preâmbulo do que estamos prestes a ver, nos territórios do EI.
A organização terrorista islâmica Boko Haram, que luta desde 2009 pela imposição da Sharia no norte do país, identifica como principal inimigo os cristãos e a cultura ocidental. Perpetrou massacres, ataques suicidais, raptos, violações, execuções e mutilações em massa, com particular incidência no sequestro de raparigas, que a organização quer proibir de estudar ou trabalhar, e a quem submete à escravatura. Em consequência do aumento da corrupção nas estruturas militares e administrativas nigerianas, o poder e apoio do Boko Haram tem aumentado.
E agora sim, o viajante está preparado para enfrentar a sétima etapa – se é que alguém o pode estar…
Não é fácil chegar lá. Talvez voando de Lagos para Istambul, com escala no Cairo (e uma escapada a Jerusalém, após Trump tê-la reconhecido como capital de Israel), e depois para Bagdad, de onde se pode viajar por terra, ultrapassando dezenas de checkpoints, para o norte do Iraque. Mas a cidade arrasada é a base ideal para explorar a região mais crítica do planeta.
Foi na mesquita de Mossul que, em Junho de 2014, o líder do Estado Islâmico, Abu Bakri al Baghdadi, depois de ter cortado os laços com a Al Qaeda, declarou a criação do califado, com capital em Mossul e um território que se estendia pelo Iraque e pela Síria, de que ele próprio era o califa.
As regiões sob o domínio do EI foram submetidas à mais rigorosa Sharia e a uma violência extrema. O grupo chamou a atenção com as decapitações televisionadas e ataques terroristas em todo o mundo. Ressuscitou arcaicas tradições corânicas como a do massacre e da escravatura, que lhe permitiu, por exemplo, cometer um genocídio contra o povo iazidi, matando de forma sistemática os homens e reduzindo as mulheres à escravatura sexual.
O EI foi praticamente derrotado militarmente, mas isso não significa qualquer esperança de pacificação. A vitória em Mossul foi conseguida por um grupo heterogéneo de forças que incluíam o exército e a polícia federal do Iraque, milícias xiitas apoiadas pelo Irão, unidades de peshmergas do Curdistão iraquiano, tropas da coligação internacional liderada pelos EUA.
Agora, a região está dividida em zonas estanques e as rivalidades vêm à superfície. Os combates entre as forças de Bagdad e de Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, já começaram.
O Curdistão não quer apenas manter a independência de facto que obteve desde a guerra do Iraque contra os EUA: acha que a sua participação no combate ao EI lhe deu direito a mais território. Entre as populações – sunitas, xiitas, curdas, iazidis – é enorme a sede de vinganças. Quanto aos jihadistas sobreviventes do EI, expulsos dos seus territórios, vão surgir noutros países e regiões, organizando ataques terroristas por todo o lado.
A partir de Mossul ou de Erbil, talvez seja a melhor forma do nosso viajante alcançar a Síria, depois de a Turquia ter fechado as fronteiras. Raqqa, que foi a capital do EI depois da queda de Mossul, também caiu, às mãos da coligação internacional, desta vez encabeçada pela Rússia.
Apesar de terem estado envolvidos, na luta contra o EI na Síria, milícias de curdos sírios e turcos, grupos pró-ocidentais da rebelião anti-Bashar al Assad, forças russas e iranianas e o próprio exército de Damasco, deverá ser este último a obter os principais benefícios.
A guerra da Síria, que começou por ser, em 2011, uma revolta contra a ditadura, no contexto da Primavera Árabe, ainda prossegue, com um saldo de 500 mil mortos e 4 milhões de refugiados.
No entanto, com o apoio de Moscovo e Teerão a Damasco, tudo aponta para que se encontre uma solução política que mantenha Assad no poder.
A futura divisão dos territórios é imprevisível, sem que nada obrigue a manter as antigas fronteiras do Iraque e da Síria. O que se joga agora é a partilha de influência entre as potências regionais – Turquia, Irão e Arábia Saudita. Entre as duas últimas, o crescendo de rivalidade é tal que, para muitos analistas, acabará numa guerra entre ambas. Sendo que o Irão é aliado da Rússia e os sauditas dos EUA.
Uma viagem a Riad, com uma extensão até ao Iémen, será importante para auscultar a guerra civil neste último país, envolvendo forças separatistas no sul e a Al Qaeda, e até que ponto uma intervenção militar saudita pode levar o conflito para além das fronteiras. A situação humanitária, essa é já dramática, com, segundo a ONU, mais de 10 milhões de pessoas a passarem fome e sede, um milhão de casos de cólera, três milhões de desalojados. E tende a agravar-se.
A República Islâmica tem marcado pontos na frente externa. Manda praticamente no Iraque, tem na mão o regime alauíta sírio e o libanês, através do Hezbollah. Mas é nas ruas de Teerão e outras cidades do país que o regime treme.
Milhares de pessoas têm saído às ruas em protesto contra a pobreza. Não são os jovens da classe média, como na Primavera Árabe ou na Revolução Verde que, dois anos antes, no Irão, dela foi precursora. Agora são os pobres a vir queixar-se da subida dos preços, apelando ao fim do regime dos Ayatollahs.
Donald Trump já manifestou apoio aos revoltosos, sugerindo a necessidade de uma mudança de regime, enquanto ameaçava rasgar o acordo de 2015 sobre armamento nuclear, que permitiu levantar as sanções contra Teerão. A tensão está no auge, a ruptura pode surgir a qualquer momento.
Complementos naturais desta etapa, o Paquistão e Afeganistão (onde o governo pode estar à beira do colapso), com os recentes ataques do EI, da Al Qaeda e dos Talibã, são paragens obrigatórias na nossa viagem.
Será necessário lá ir ver a caricatura de comunismo que caracteriza o regime para compreender o que está em causa. Durante todo o ano passado, o presidente Kim Jong Un lançou uma série de provocatórios testes nucleares, com o objectivo de desenvolver mísseis de longo alcance capazes de atingir o território dos EUA.
A guerra de palavras entre Kim e Trump tem crescido em atrevimento e incontinência, o que normalmente é uma preparação para os actos violentos propriamente ditos. Com Trump, porém, isso não é certo. Tanto pode ser bluff deliberadamente inconsequente, como ter, indeliberadamente, consequências.
A verdade é que um conflito nuclear parece nunca ter estado tão iminente. Se acontecer, o que significa? Como será, quantas pessoas morrerão? Calcula-se que a Coreia do Norte possua entre 25 a 60 armas nucleares, embora não se saiba se tem capacidade para as lançar sobre a América. Mesmo que não tenha, um relatório do Congresso calcula que 300 mil pessoas morreriam logo nos primeiros dias de um ataque americano.
Segundo a revista “The National Interest”, se Pyongyang resolvesse, e conseguisse, lançar um ataque “preventivo” contra os EUA, como tem dito que fará, e mesmo que só lograsse atingir as cidades de Los Angeles, S. Francisco, Seattle e Portland, o balanço de mortes seria de 3 milhões. Após a resposta americana, o numero de vítimas mortais subiria para 8 milhões, entre americanos e coreanos.
Mas, a acontecer, essa guerra envolveria necessariamente a Coreia do Sul, o Japão e a China. Pequim, que é aliado e principal parceiro comercial de Pyongyang, tem aconselhado Kim a parar as provocações nucleares. Mas não é certo que posição tomaria em caso de conflito aberto.
Numa lógica de transição de poder entre impérios, a China pode estar à espera de uma oportunidade para enfrentar a potência americana. E este é apenas um dos pretextos que podem surgir.
Outros seriam as constantes escaramuças a respeito do domínio sobre as ilhas do Mar do Sul da China, que poderiam desencadear um súbito conflito com a Malásia, as Filipinas, o Vietname ou o Japão. E outro ainda seria a relação com Taiwan. Pequim continua a ver a ilha, para onde fugiu o governo de Chang Kai Check após a revolução chinesa, em 1949, como uma província insurgente. Um deslize verbal do governo de Taipé ou de algum dos seus imprudentes aliados, como Donald Trump, poderia levar à imediata invasão por parte da China Popular.
A China e Taiwan seriam capítulos obrigatórios desta fase da volta ao mundo, antes de partirmos para um novo destino.
As Filipinas, onde o presidente, Rodrigo Duterte, a pretexto de um combate sem tréguas contra os traficantes de droga, lançou o país numa onda de violência, é hoje um dos santuários do Estado Islâmico.
Após uma série de ataques, o EI chegou a conquistar a ilha de Mindanao, de cujo território manteve o total controlo durante três meses. As forças de segurança do país retomaram a região graças à ajuda americana. Mas o recrutamento para o EI continua, devido às tensões entre os muçulmanos da região e os católicos e protestantes do norte do país.
A Indonésia seria o segundo destino desta etapa. O Jamaah Ansharut Daulat, grupo terrorista fiel ao EI, tem cometido atentados em Jacarta e outras cidades do arquipélago, e as forças de segurança do país dizem haver células deste e de outros grupos radicais em todas as províncias. A Indonésia, o mais populoso país muçulmano do mundo, parece estar a ser a principal base de recrutamento do EI no Sudeste asiático, região para onde o sonho do califado pode ter-se transferido.
A situação na Venezuela tende a agravar-se, com a crise política e económica sem solução. Uma intervenção americana à moda antiga não está fora de questão. Na América Latina, a etapa inclui uma visita ao Brasil que, com as sondagens a colocarem Lula da Silva em primeiro lugar para as presidenciais deste ano e o extremista de direita Jair Bolsonaro em segundo, é visto pelo mundo como um barril de pólvora.
E um passeio pelo México, onde a violência de gangues e o narco-terrorismo provocaram dezenas de milhares de mortos nos últimos anos, fazendo do país um dos mais violentos do mundo, e a piorar.
Geralmente, os perigos do mundo são, na maioria dos estudos internacionais, elencados em função do grau de ameaça que representam para os EUA.
Desde a eleição de Donald Trump, porém, até os think tanks americanos inverteram a perspectiva das análises: trata-se agora de identificar os perigos que os EUA colocam ao resto do mundo.
Há uma sensação de que o planeta ficou mais inseguro, com a nova administração americana. Por causa da falta de princípios, de sensatez e experiência, e da azelhice diplomática, mas também da linguagem, desbragada, que é geralmente preâmbulo das guerras.
É como se Trump tivesse vindo preencher um lugar que estava vago precisamente para ele. Porque muitos dos elementos que parecem formar a tempestade perfeita da nossa civilização já se desenvolvem há anos à nossa volta. O crescimento das desigualdades sociais, as crises económicas, as alterações climáticas, as redes sociais, a privacidade comprometida, as fake news e o pós-verdade, os ciberataques, a inteligência artificial.
Talvez o grande perigo de guerra venha daí, e não de factores geo-estratégicos. No futuro, isso será explicado. É sempre explicado, a posteriori, o que prova o carácter lógico da ocorrência de conflitos armados. Não os vemos chegar porque os factores são mais do que a nossa capacidade de os processar. Os futuros computadores quânticos poderão, esses sim, prever facilmente todas as nossas desgraças.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor