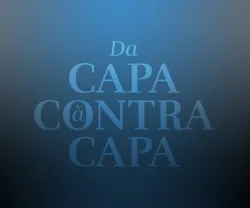Num mundo mais quente, a palavra de ordem é adaptação
"Bom dia, hoje é 10 de Agosto de 2050 (...) e seguimos com alertas vermelhos de calor em grande parte do centro do país. Nas últimas horas, os termómetros aproximaram-se dos 50 graus nalguns pontos e superaram os 45 graus em grande parte do interior."
“Bom dia, hoje é 10 de Agosto de 2050 e seguimos com temperaturas muito elevadas. Já são dez dias seguidos com valores acima da média. E vão-se manter assim nas próximas horas, porque a massa de ar do Sara permanecerá sobre o território. Temos alertas vermelhos de calor em grande parte do centro do país. Nas últimas horas, os termómetros aproximaram-se dos 50 graus nalguns pontos e superaram os 45 graus em grande parte do interior. As temperaturas mínimas, à noite, têm estado entre os 27 e os 29 graus. Não está fácil para dormir”.
Não, não é Portugal. Mas poderia ser. Este relato de tão candentes condições meteorológicas é, na verdade, um boletim do tempo para Espanha, aqui ao lado, no futuro.
Há três anos, a Organização Meteorológica Mundial desafiou apresentadores do tempo em vários países a simularem a previsão para um dia do Verão de 2050, numa campanha de sensibilização para as alterações climáticas. Embora fictícios, os boletins eram baseados na informação científica disponível.
Portugal não participou do exercício, mas o resultado para Espanha é um reflexo do que pode caracterizar o Verão do lado de cá da fronteira: temperaturas escaldantes, muitos dias com os termómetros nos píncaros, ondas de calor mais longas e mais severas.
Os dados mais recentes indicam que, no distrito de Beja, a média das temperaturas máximas entre Julho e Setembro poderá chegar aos 34 graus Celsius em 2050 – três graus a mais do que acontece agora. Em 2100, o valor poderá subir para os 36 graus. A imagem que esta média sugere é infernal: três meses seguidos com o termómetro a chegar àquela marca, dia após dia.
Na prática, é claro, não será assim. Haverá dias de menor ou maior calor. Mas tanto pior. Se imaginarmos que o recorde de temperatura em Beja foi de 45,4 graus, na diabólica onda de calor de agosto de 2003, podemos antecipar o que se espera no futuro, nos dias em que a meteorologia estiver a pender para o extremo.
É possível minimizar este cenário. Mas não há escapatória, vamos ter de nos adaptar a um mundo mais quente.
Aquecimento inevitável
Que a Terra vai aquecer ao longo deste século, não há dúvidas. Resta saber quanto. O último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas – o braço científico da ONU para o clima, conhecido pela sua sigla em inglês, IPCC – concluiu que o aquecimento global é uma realidade inequívoca e que a maior parte da culpa é nossa.
Mais da metade do aumento da temperatura desde 1950 é atribuído às atividades humanas, sobretudo ao dióxido de carbono (CO2) expelido pelos automóveis e pelas chaminés das indústrias, ou acumulado pela destruição das florestas.
Para o futuro, o IPCC traçou vários cenários. O mais gravoso sugere que, se pouco ou nada for feito para reduzir a influência humana no clima, o planeta vai chegar ao final deste século com a temperatura entre 2,6 e 4,8 graus Celsius mais elevada do que a média de 1986-2005. No mais otimista, o termómetro global subirá entre 0,3 a 1,7 graus.
Este é o único cenário compatível com a ambição máxima que 196 nações inscreveram no Acordo de Paris, o tratado climático aprovado pelas Nações Unidas em 2015 na capital francesa. O acordo fixa duas metas: o aquecimento da Terra não deve superar 2,0 graus Celsius até ao final do século, em relação aos valores da era pré-industrial, mas os países farão todos os esforços para o limitar a 1,5 graus.
Para desbloquear diferendos insuperáveis nas negociações que se arrastavam há anos, o Acordo de Paris introduziu uma novidade na diplomacia climática. Em vez de determinar o que cada país tem de fazer para que as metas sejam cumpridas, o tratado deixou que cada um dissesse o que podia fazer. A ONU tem agora em mãos quase duas centenas de planos, na verdade promessas voluntárias, onde cada nação detalha de que forma contribuirá para ajudar a cumprir as metas de Paris.
O problema é que tudo o que está em cima da mesa não é, para já suficiente. “Os compromissos em termos de redução de emissões não estão minimamente perto dos 2,0 graus, mas antes produzirão um aquecimento da ordem dos 3,0 graus”, explica Corinne Le Quéré, diretora do Centro Tyndall para Investigação sobre Alterações Climáticas da Universidade de East Anglia, no Reino Unido.
Le Quéré lidera um projeto que envolve cientistas de vários países para calcular, anualmente, as emissões mundiais de CO2. E a contabilidade está mais elevada do que nunca.
Em 2016, a humanidade despejou na atmosfera cerca de 36 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono. Metade desta fatura carbónica cabe à China (28%), aos Estados Unidos (15%) e à Índia (7%). Nos anos mais recentes, houve uma certa estabilização das emissões, e mesmo uma redução em 2015, em relação a 2014. Mas não há razão para soltar foguetes, pois os dados para o ano passado não auguram nada de bom. “As emissões globais têm de começar a cair rapidamente. Mas em 2017, subiram 1,5%”, afirma Le Quéré.
Portugal mais quente
A dimensão do que tem de ser feito para conter o aquecimento do planeta é brutal. Para o manter abaixo de 1,5 graus, as emissões de CO2 precisam cair a pique já a partir de 2020. Mais do que isso, por volta de 2080, a humanidade teria de encontrar mecanismos para retirar carbono da atmosfera, por exemplo aumentando a capacidade de absorção de CO2 das florestas ou através de soluções tecnológicas que ainda não existem.
É de tal ordem a trajetória de esforços, que este cenário é olhado de lado por cientistas que fazem projeções sobre os impactos das alterações climáticas. “É irrealista, mas há uma pressão política para trabalharmos com ele”, afirma Pedro Matos Soares, investigador do Instituto Dom Luiz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Pedro Soares e outros especialistas do Instituto Dom Luiz trabalham há mais de uma década na construção de novas projeções sobre o que poderá ser o clima em Portugal ao longo deste século. Não é uma tarefa fácil. A atmosfera é um organismo dinâmico e caótico, quase um ser vivo, governado por leis físicas que os cientistas tentam traduzir em equações matemáticas.
Para simular o clima no futuro, é preciso dividir a atmosfera em milhares de células tridimensionais, como se fossem cubos de ar, e aplicar a cada uma delas cálculos complexos, usando códigos com milhões de linhas de programação.
Os computadores do centro de cálculo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa precisam de trabalhar nove meses seguidos para produzir uma evolução das temperaturas e da precipitação até 2100. Mesmo máquinas mais potentes levam um mês a completar a tarefa. E ainda assim, os modelos de simulação não conseguem representar fielmente tudo o que acontece na atmosfera. “As nuvens continuam a ser a maior fonte de incerteza. Mas apesar disso, podemos confiar nesses modelos”, diz Rita Cardoso, também investigadora do Instituto Dom Luiz.
Os resultados mais recentes desta longa investigação têm vindo a ser publicados nos últimos dois anos em artigos em revistas científicas internacionais, o último dos quais de Fevereiro passado. E o retrato que pintam é o de um país com um clima distinto, bem mais quente e com muito menos chuva.
No cenário mais gravoso do IPCC, que é o que estamos a trilhar neste momento, a média das temperaturas máximas em Portugal pode subir 4,0 graus Celsius até ao fim do século, em relação à média dos trinta anos entre 1971 a 2000. As mínimas aumentarão 3,4 graus.
A média anual apenas é um indicador genérico, que esconde variações temporais e geográficas. “É mais importante olhar para a temperatura a nível sazonal, pelo seu impacto nos fogos, na energia, na agricultura, na água e na saúde”, afirma Pedro Soares.
Na Primavera, as temperaturas máximas podem ser até quatro graus mais altas do que agora, no Sul do país. No Verão, o aumento pode superar seis graus no Nordeste transmontano, e nalguns pontos chegar a oito graus. A média das temperaturas máximas entre julho e setembro ficará acima dos 30 graus em quase todos os distritos de Portugal continental, exceto Viana do Castelo e Leiria. Ultrapassará os 36 graus em Beja e Évora, 35 em Portalegre e 34 em Castelo Branco, Faro e Santarém (ver infografia interativa).
Ainda no cenário mais pessimista, as ondas de calor em Portugal irão tornar-se muito mais frequentes e intensas. Agora, há em média uma por década. No final do século, serão sete por década. “O mais preocupante é a sua duração”, alerta Pedro Soares. Com o elevado aquecimento que lhe está destinado, o Nordeste transmontano, por exemplo, poderá enfrentar ondas de calor com 40 a 50 dias de duração.
Mudanças significativas no regime das chuvas emergem também das projeções feitas pelos investigadores. No Inverno, a variação será pequena. Mas na Primavera, quando a água é particularmente necessária para a agricultura e para encher as barragens antes da estiagem, haverá quebras de 20 a 30% na precipitação no Norte do país e de 30 a 40% no Sul.
No Verão, se hoje já chove pouco, no futuro choverá ainda menos. E no Outono, o Norte perderá um quinto da precipitação que hoje regista. Esta conjugação é particularmente nefasta. “Depois de um Verão quente e seco, teremos um Outono também mais quente e com menos precipitação. Vamos ter um risco de incêndio maior”, antecipa Pedro Soares.
Também é expectável que as secas se tornem mais extensas, com a sua duração média a aumentar de um ano para três a quatro ao longo deste século.
Por mais contraditório que possa parecer, o risco de cheias também tem tendência a agravar-se. As simulações sugerem que, embora haja menos precipitação no total, haverá mais dias com mais chuva e menos dias com menos chuva. O número de dias com precipitação intensa poderá aumentar 10 a 20%.
Meio grau faz diferença
Todos estes números referem-se a um cenário pessimista, no qual a sociedade pouco ou nada fará para reduzir as emissões de CO2 e elas continuarão a crescer até ao final deste século. No entanto, mesmo se se conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, viveremos num mundo diferente e seremos obrigados a adaptar-nos a novas realidades que um clima distinto do atual irá impor.
E basta um pequeno aumento da temperatura global. Quando o último relatório do IPCC foi produzido, em 2013, o aquecimento da Terra já ia em 0,85 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Pode parecer uma diferença mínima, mas já tinha sido suficiente para elevar o nível do mar em 19 centímetros, reduzir o volume de gelo na Gronelândia, Antártida e Ártico, alterar a distribuição, hábitos e abundância de animais e plantas, tornar mais frequentes as ondas de calor na Europa, Ásia e Austrália e aumentar o número de tempestades nalgumas regiões do mundo, segundo o IPCC.
Nem todos os impactos observados são negativos. As alterações climáticas estão a reduzir o número de mortes pelo frio, embora aumente as que ocorrem por causa do calor. E em muitas zonas do globo, a agricultura está-se a tornar mais produtiva.
Se com menos de um grau Celsius já se observam estas e outras alterações, com 2,0 graus de aquecimento as transformações serão ainda maiores. E mesmo a meta mais ambiciosa de Paris – de manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus – seria acompanhada de consequências.
Num estudo publicado em 2016, cientistas da European Geosciences Union – uma agremiação de académicos das geociências, com sede na Alemanha – procuraram avaliar que diferença faria o meio grau que separa aquelas duas metas. O nível do mar, por exemplo, subirá 40 centímetros a nível global com 1,5 graus de aumento e 50 centímetros com 2,0 graus.
No Mediterrâneo, a redução na disponibilidade de água duplica de 9% para 17%. O aumento da precipitação intensa sobe de 7% a 10% no Sul da Ásia. A probabilidade de recifes de corais em risco de sucumbirem a um mar mais quente é de 70% num caso e 99% no outro. Nos benefícios também há diferenças: o aumento na produção mundial de soja é de 7% com 1,5 graus, mas de 1% com 2,0 graus. Já o milho sofre uma quebra de 1% no primeiro caso e de 6% no segundo.
Tão ou mais política do que científica, a própria meta dos 1,5 graus não deixa ninguém tranquilo, especialmente algumas ilhas do Pacifico que correm o risco de desparecer do mapa com a inexorável subida do mar. Há dois anos, cientistas australianos publicaram evidências claras de que isto já está a acontecer. Depois de analisar imagens de satélite das Ilhas Solomon de 1947 a 2014, os investigadores concluíram que cinco ilhotas desabitadas já estavam submersas e seis outras tinham perdido bons bocados ao mar, desalojando habitantes que nelas viviam.
Uma avaliação mais profunda do que será o mundo com o termómetro 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial está neste momento em curso no IPCC. As conclusões deverão ser apresentadas em setembro, antes da próxima conferência anual climática da ONU, que terá lugar na Polónia, em Dezembro.
Municípios nacionais preparam-se
O que tudo isto mostra é que a Terra vai mesmo continuar a aquecer e que haverá consequências. E há quem já esteja a se preparar para este futuro. O município de Cascais, por exemplo, começou a abordar a questão em 2010, quando encomendou um primeiro estudo sobre as consequências de um mundo mais quente para o concelho.
A temperatura média local pode vir a aumentar três graus Celsius no Verão e cinco graus no Inverno até ao final do século. Já até 2050, o nível do mar poderá subir 22 centímetros, a precipitação descer 30% e o risco de erosão costeira aumentar 30 a 50%. “Isto faz-nos perceber que as consequências são sérias. As cidades são as primeiras a sentir o impacto das alterações climáticas”, afirma Joana Balsemão, vereadora responsável pelas questões do ambiente, clima e sustentabilidade na autarquia.
Nem tudo é negativo. Invernos mais quentes são capazes de beneficiar o turismo no concelho. Mas ao mesmo tempo, a erosão costeira ameaça levar a areia das praias – o principal cartão de visita de Cascais.
No ano passado, a câmara municipal aprovou um plano de ação para adaptar o concelho às alterações climáticas. Contém 85 medidas, a um custo de 11 milhões de euros, para pôr em prática até 2030. Há três eleições autárquicas pelo meio nesse período. Mas as alterações climáticas já fazem parte do plano diretor municipal do concelho desde 2015 e, segundo Joana Balsemão, o tema já está “entranhado” nos serviços. “Há mecanismos que garantem que o plano de ação não dependerá dos ciclos políticos”, acredita a vereadora.
Das medidas do plano constam ações educativas, como colocar o tema nas escolas, para sensibilizar as gerações que sentirão na pele os efeitos das alterações climáticas. Mas também há medidas “verdes”, como renaturalizar ribeiras e replantar, no Parque Natural Sintra Cascais, espécies autóctones no lugar de invasoras, mais suscetíveis aos fogos, e “cinzentas”, como preparar as redes de águas pluviais e residuais para lidarem melhor com episódios de chuvas intensas.
Cascais não está sozinha. Vinte e seis municípios participaram de um projeto pioneiro em Portugal lançado em 2015 para capacitar as autarquias no tema das alterações climáticas – o ClimAdaPT.Local. Técnicos municipais foram treinados e as vulnerabilidades de cada município estudadas.
Um dos principais objetivos do projeto era garantir que as alterações climáticas fossem tratadas de forma transversal nas autarquias. “A mensagem que procurámos passar era a de que não se criasse um setor específico para isso nas câmaras, separado dos outros”, diz Gil Penha-Lopes, coordenador do ClimAdaPT.Local
Quando o projeto foi concluído, no final de 2016, todas as autarquias participantes tinham já uma estratégia elaborada e aprovada, unindo-se a mais quatro para formar Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.
Mais de 600 medidas de adaptação foram identificadas como possíveis pelas autarquias, da retirada de construções da linha de costa por causa da erosão à criação de bacias de retenção nas ribeiras para conter as cheias; da monitorização de insetos que transmitem doenças à elaboração de cartas de risco de inundações; da melhoria da eficiência energética dos edifícios à adaptação da oferta turística à nova realidade climática.
A imaginação é o limite para uma lista de opções de adaptação ao clima no futuro ou para evitar que o termómetro suba tanto. Gil Penha-Lopes cita uma invulgar: a criação de moedas locais, tal como já existem em algumas cidades britânicas. “Só podem ser usadas na compra de produtos e serviços locais”, explica Penha-Lopes. Com isso, evitam-se emissões de CO2 do transporte de mercadorias a longa distância, entre outros benefícios.
Os exemplos multiplicam-se por vários países europeus. Em Grindelwald, na Suíça, foram construídos túneis para escoar a água dos lagos formados pelo progressivo degelo dos glaciares, reduzindo o risco de cheias. Em Trondheim, na Noruega, pequenos “jardins de chuva” espalhados pela cidade ajudam a reter a água em dias de grande precipitação. Já Copenhaga, na Dinamarca, está a apostar firmemente na instalação de áreas verdes nos telhados dos edifícios, tanto para reter a água da chuva, como para limitar o efeito de “ilha de calor” próprio das cidades. E em Montpellier, França, foi instalado um campo experimental “agro-voltaico”, em que as culturas agrícolas são protegidas pela sombra de painéis solares, que ao mesmo tempo estão a produzir energia – uma receita vencedora para o calor mais robusto que se prevê na Europa mediterrânica.
Otimismo tecnológico
A adaptação é uma necessidade mas não resolve todos os problemas. O outro lado do combate ao aquecimento global é mais complicado. O jargão climático chama-lhe “mitigação” – um termo que nada mais significa do que reduzir as causas da febre do planeta.
Para isso, o uso de combustíveis fósseis – petróleo, carvão e gás natural – terá de cessar na segunda metade deste século. Portugal hoje depende umbilicalmente destes combustíveis, que são a fonte de três quartos de toda a energia primária consumida no país.
Deixar o petróleo, em particular, requer mais do que simplesmente passar a usar automóveis que não necessitem de gasóleo ou gasolina. Implica colateralmente desistir de bons negócios, pois pouco mais de um terço do petróleo importado por Portugal, depois de refinado cá, acaba por ser reexportado sob a forma de combustíveis. No ano passado, este comércio externo rendeu 3,4 mil milhões de euros ao país, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.
Uma parte da solução está nas mãos dos cidadãos. Andar de bicicleta em vez de carro ou comprar eletrodomésticos que consomem menos energia são exemplos de soluções simples ao alcance de qualquer um. Mas na União Europeia, a preocupação com as alterações climáticas está em declínio. Em 2011, cerca de 20% dos europeus considerava tratar-se do maior problema enfrentado pela humanidade, segundo um inquérito do Eurobarómetro. Em 2017, eram só 12%.
Os mais preocupados são os da Europa do Norte – 38% na Suécia, 29% na Dinamarca, 27% na Holanda e 20% na Finlândia. Portugal está na cauda desta lista, juntamente com a Grécia, com apenas 4% da população de facto inquieta com o assunto.
Psicólogos norte-americanos sintetizaram, num artigo científico de 2015, por quê a questão climática não é levada a sério pelos cidadãos. “A maior parte das pessoas considera as alterações climáticas como um risco não urgente e distante – espacial, temporal e socialmente –, o que tem contribuído para o adiamento de decisões públicas sobre mitigação e adaptação”, escreveram Sander van der Linden, Edward Maibach e Antony Leiserowitz, das universidades de Princeton, George Mason e Yale, na revista Perspectives on Pshycological Science.
Dois anos depois, Donald Trump era o novo Presidente norte-americano e anunciava que os Estados Unidos iriam abandonar o Acordo de Paris.
O tratado adotado em Paris passará por um teste em Dezembro próximo, na conferência climática que a ONU realiza todos os anos nessa altura. Nela será feito um ponto da situação dos esforços que os países prometeram há três anos em Paris. Com grande probabilidade, ficará mais uma vez evidente que os compromissos não são suficientes.
Resta saber o que a ONU fará com este exame. “Pode ser um momento para criar pressão sobre os governos. Mas pode cair em saco roto e ser algo de que a conferência apenas toma nota”, avalia Pedro Martins Barata, ex-membro da delegação portuguesa nas negociações climáticas internacionais e CEO da consultora Get2C. “A conferência tem de, pelo menos, iniciar um processo formal para discutir o resultado deste exercício”, acrescenta.
Não deixa de ser irónico que a reunião da ONU ocorra este ano na Polónia, um país que depende visceralmente do carvão como fonte de energia e que por isso tem sido a principal força de bloqueio à ambição das políticas climáticas da União Europeia.
A despeito do caráter aparentemente insuperável dos desafios que temos pela frente, há visões bastante mais otimistas de como a civilização humana vai resolver o problema que ela própria criou. E a solução virá de tecnologias ditas disruptivas, capazes de operar transformações imediatas na sociedade.
Uma das vozes sonantes desta filosofia é a do norte-americano Tony Seba, empreendedor, pensador e autor de sucesso, que percorre o mundo a fazer palestras sobre como o mundo está à beira de uma nova revolução energética. A tecnologia, defende Seba, está a evoluir a um ritmo exponencial e em breve vai chegar ao ponto em que será economicamente mais vantajoso não possuir um automóvel.
Os carros serão elétricos, alimentados exclusivamente por energia solar ou eólica, e autónomos, sem condutor. Para usá-los, bastará solicitá-los numa aplicação do tipo Uber. O modelo de negócio do petróleo e dos carros de combustão interna estará obsoleto. Os combustíveis fósseis não serão mais necessários. O problema do CO2 dos transportes estará resolvido. E tudo isso, prevê Seba, vai acontecer em 2030, ou seja, daqui a pouco mais de dez anos. “É uma visão que pode ser altamente discutível. Mas é plausível”, afirma Pedro Barata.
Viriato Soromenho Marques, professor de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e um veterano do movimento ambientalista português, discorda. “Tudo isso é um conjunto de falácias. É uma ideologia que existe para dormirmos melhor à noite”, diz. “O otimismo tecnológico baseia-se na ideia de que a capacidade do ser humano resolver os problemas é maior do que a de os criar. Mas uma parte dos problemas que temos hoje são fruto da própria tecnologia”.
Os apologistas do papel redentor da inovação, acrescenta Soromenho Marques, esquecem-se de que o mundo é cada vez mais desigual, enfrenta uma emergência ambiental sem precedentes e assenta em políticas sociais e económicas frágeis. “A tecnologia vai ser parte da solução. Mas precisamos também da mudança de comportamentos, de melhores políticas e de medidas de adaptação”, completa.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.