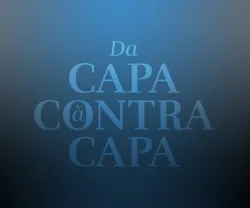Mulheres: Uma revolução dentro de casa
Com ilustrações de Ivone Ralha
Era dia de Natal. Olhei para a mesa e lá estava uma tradicional metáfora da desigualdade de género. No prato do meu pai, uma coxa e algumas batatas e legumes. No prato da minha mãe, um pescoço, uma asa e algumas batatas e legumes.
– Não devia comer isso –, resmunguei.
– É o que eu gosto! – reagiu.
O que mais terá contribuído para que a minha mãe chegue aos 74 anos a acreditar que gosta mais de comer o pescoço e a asa? O que mais terá concorrido para que eu, aos 43, me julgue no direito de estar entre os primeiros a escolher? Que esperar da minha sobrinha mais nova, de três anos?
Não há uma mulher portuguesa. O género cruza-se com a classe social, a pertença étnica, a orientação sexual, o sítio em que se vive, a fase da vida em que se está, no confronto com o contexto sócio-político e com os avanços científicos. Há, como diz o sociólogo francês Bernard Lahire, disposições para acreditar, para sentir, para agir.
Semi-pessoas
A minha mãe só teve uma boneca que a minha avó lhe fez com sobras de pano. Se lhe deu um nome, não se lembra. Lembra-se, sim, de ficar furiosa cada vez que lhe chegava algum som suspeito vindo do quarto dos pais. “Mais merda para limpar!”. Era a mais velha das filhas da minha avó, que pariu 16 filhos e viu morrer oito ainda muito pequenos.
Depois da primeira Grande Depressão e da Segunda Grande Guerra, num período de crescimento económico e esperança no futuro, houve uma explosão demográfica no mundo ocidental. A miséria generalizada e a insipiência da assistência materno-infantil mantiveram Portugal à margem dessa explosão. Hoje, o país tem uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas do mundo – no ano passado, morreram 3,2 bebés por cada mil no primeiro ano de vida, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Nos anos 40, morriam mais de 150.
A minha mãe nasceu em 1944 no seio de uma família formada por um artesão do vime e uma doméstica. A minha mãe nasceu em casa, em São Vicente, do outro lado da grande montanha, num vale profundo da Madeira rural.
Fazia bonecas com pedras, paus e caroços de milho. Brincava “às casinhas” e “ao pai e à mãe”. Bordava folhas de couve usando agulhas de pinheiro. Também brincava às escondidas, à apanhada, à macaca, mas pouco. Havia muito que fazer em casa e nos campos dispersos.
A Constituição de 1933 fixava a escolaridade obrigatória nos três anos, mas o Estado não a garantia. E que famílias podiam dispensar o trabalho infantil e suportar os gastos com a escola? A minha avó materna nunca aprendeu a ler e a escrever.
A minha mãe saiu da escola depois de passar o exame da 3ª classe. A escolaridade passou a ser de quatro anos em 1956, mas apenas para crianças do sexo masculino e adultos. As crianças do sexo feminino só foram abrangidas em 1960.
Apesar de tudo, era a escola, por fim, a inscrever-se “como algo de absoluto e de normal” na vida dos portugueses, passando de “uma forma de alfabetização ‘voluntária e informal’” para uma “forma de ‘escolarização imposta e estandardizada’”, nas palavras de António Candeias e Eduarda Simões, num texto sobre a escola no século XX. Pelas suas contas, em 1940 só 33% das crianças entre os sete e os nove anos frequentavam a escola; em 1960, 95%.
Que podia esperar uma rapariga naquele lugar, naquele tempo? “Casar, ter filhos, cuidar da casa, trabalhar na terra, levar nas ventas quando calhasse”, responde a minha mãe. O marido até podia matar a mulher adúltera apanhada em flagrante que o castigo não ia além de seis meses de desterro da comarca.
As mulheres não eram bem pessoas. Eram semi-pessoas.
A desigualdade estava instituída. Por lei, o homem era “o chefe de família”, o provedor, o administrador dos bens do casal. A mulher devia-lhe obediência. Cabia-lhe o “governo doméstico”, o que quer dizer que tinha o dever de cuidar da casa e da família.
O meu avô materno que não sonhasse que a minha avó adormecia no banco a vigiar o namoro dos meus pais. Se uma noiva não chegasse virgem à noite de núpcias, o noivo podia pedir a anulação do casamento. Com o noivo, claro, a conversa era outra. A sua experiência sexual só importava se acarretasse “costumes desonrosos”.
A minha mãe casou-se, virgem, aos 19 anos. Achava que estava pronta para trocar os afazeres da família de origem pelos afazeres da família que iria formar. Sabia lavar, passar, limpar, cozinhar, costurar, cortar cabelo, cavar, tirar regos, ordenhar vacas. E foi desempenhando o papel de cuidadora – da casa, do marido, dos filhos e a certa altura até do sogro demente –, que conciliava com o trabalho agrícola. Competia-lhe responder às necessidades e aos desejos dos outros. Se os outros queriam coxa ou peito, ela queria pescoço e asa.

O poder da pílula contraceptiva
– Sabe o que é uma feminista?
– Sei lá!
– Uma feminista é uma pessoa que defende a igualdade entre homens e mulheres.
– Isso eu também defendo com unhas e dentes, mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso defender as mulheres? Tantas morrem todos os anos… A mulher se pudesse também batia no homem, mas não pode. O homem tem muita força.
– Também há mulheres que batem.
– Mas para haver uma mulher a bater, quantos homens batem?
– A ideia não é haver mulheres a bater em homens, é ninguém bater em ninguém.
– Isso é que eu gostava de ver!
Aproveitando aqueles dias festivos, fomos fazendo este exercício, divertido e doloroso, de olhar para nós para lá de nós. Certa noite, desafiei-a a identificar a coisa mais determinante na vida dela. E, sem hesitar um segundo, ela mencionou a pílula contraceptiva.
Quantas mulheres da geração dela responderiam o mesmo? Não só em Portugal, no mundo inteiro.
A pílula foi introduzida em Portugal em 1962 como regulador de ciclos menstruais. Não era suposto dizer-se que evitava gravidezes indesejadas, que permitia decidir se e quando ter filhos. A encíclica do Papa Paulo VI sobre a regulação da natalidade, datada de 25 de Julho de 1968, veio reconhecer o direito de fazer planeamento familiar, mas apenas através de métodos naturais.
A minha mãe descobriu a pílula em Moçambique, onde se juntou ao marido em Janeiro de 1972, com os dois filhos rapazes ainda pequeninos – ele cumprira o serviço militar obrigatório e ingressara na polícia de segurança pública. O segredo foi-lhe passado por umas vizinhas, que já a tomavam. “Foi a melhor coisa que fiz lá. Se não fosse isso, tinha-me enchido de filhos, como as outras. A Fernanda do Pé de Lombo, que é da minha idade, teve nove!”
O limitado acesso ao mercado de trabalho
Livre do ciclo gravidez-parto-amamentação, a minha mãe começou a pensar em trabalhar fora de casa. Averiguou essa possibilidade num salão de cabeleireiro. “Eu disse que sabia cortar cabelo e o senhor disse que eu podia trabalhar lá.”
O meu pai nem quis ouvir. E se algum homem se metesse com ela? E o que iam pensar dela? E o que iam pensar dele? E o que iam dizer? E quem trataria da casa, da roupa, da comida, das crianças? E para quê? Ele não ganhava o suficiente?
Hoje, as mulheres representam metade da força de trabalho. A questão é a desigualdade salarial – ainda ganham menos 15,8% do que os homens, o que corresponde a 58 dias de trabalho não pago, pelos cálculos da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego feitos com base nos salários de 2016. Naquele tempo, o que se desafiava era a própria ideia de mulher profissional.
Não faltavam restrições legais. As mulheres não podiam fazer trabalhos subterrâneos nas minas. Tão-pouco carreira na magistratura ou na diplomacia. Só podiam ser enfermeiras, telefonistas, hospedeiras ou funcionárias do Ministério dos Negócios Estrangeiros se fossem solteiras ou viúvas. As professoras primárias podiam casar-se, mas não com qualquer um e antes tinham de pedir autorização ao Ministério da Educação.
Um estudo sobre igualdade de género ao longo da vida, coordenado pela socióloga Anália Torres e editado pela FFMS, explica como tudo mudou: “Com o desencadear da guerra colonial, o mercado de trabalho oferecia ao pequeno núcleo de universitárias ou de mulheres com escolaridade secundária oportunidades de emprego compatíveis – função pública, professorado, empresas. Isto porque os potenciais cônjuges eram obrigados, depois da finalização do ensino superior, a cumprir serviço militar e participar na guerra; em alternativa, só tinham a saída do país. Para as jovens mulheres, este período em que os homens estavam mobilizados para a guerra, e que chegava a durar quatro anos, revelou-se uma oportunidade de participação no mercado de trabalho, oportunidades essas que foram concretizadas por muitas. Compatibilizar a vida familiar com a vida profissional era possível nessa altura, porque numa sociedade profundamente desigual, com a forte emigração e o abandono da agricultura, afluía às grandes cidades mão-de-obra feminina jovem para o emprego doméstico, abundante e a baixo custo.”
Com o 25 de Abril de 1974 e o fim da guerra, as mulheres não voltaram a fechar-se em casa, até porque os salários então, como hoje, eram demasiado baixos. E as conquistas da democracia convidavam-nas a entrar ou a aguentarem-se no mercado de trabalho.
De regresso à Madeira, a minha mãe imaginou-se a morar no Funchal e a trabalhar como cozinheira. Embora grande apreciador dos seus dotes culinários, que para ele não têm paralelo no planeta, o meu pai não quis. Estavam a construir casa na aldeia. Preferia conciliar o trabalho na polícia com o trabalho no campo.
Olhando para trás, a minha mãe julga que a vida teria sido diferente se se tivessem fixado na cidade e tivesse arranjado um emprego. Em certos momentos de crise, foi a dependência económica e o amor pelos filhos que a amarraram ao casamento. “Não ia estar à espera que teu pai me desse um tostão. Ia ter para mim e para os meus filhos.”
O divórcio tornou-se possível para casados pela Igreja Católica. E, naqueles primeiros anos, houve uma explosão. Veja-se o registo do Instituto Nacional de Estatística: 604 em 1973, 777 em 1974, 1552 em 1975, 4875 em 1976, 7773 em 1977. Para lá da vulgarização da contracepção, da entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, da diminuição do número de filhos, emergia outra forma de estar dentro das relações amorosas, outra exigência.
Longe de todos os discursos emancipatórios, a minha mãe intuía que era no dia-a-dia, em particular na luta contra a desigualdade económica, que se travava a desigualdade de género. E até assumia algumas das tarefas domésticas que podia atribuir a mim e à minha irmã para que nós tivéssemos mais tempo para estudar, para ler, para explorar o nosso pequeno mundo. “Pedia a Deus que as minhas filhas ganhassem o seu dinheiro, que fossem donas de si.”
– O que é que sonhou para si que, não conseguindo, sonhou para nós?
– Que estudassem, que aprendessem a conduzir, que cada uma tivesse o seu carrinho, que cada uma ganhasse o seu pão. Eu sempre quis isso para mim.
– Queria tirar carta de condução?
– Eu não podia. O dinheiro andava sempre contado. Fui pouco à escola, ia custar a tirar o código. Queria que as minhas filhas tirassem. Um dia mais tarde, se precisassem de levar uma criança ao médico à pressa, não tinham de pedir a ninguém, de ver beiças penduradas.
– E ter um salário?
– Eu acho que toda a mulher deve ganhar o seu salário. Uma que não vive apertada. Outra que não está à espera que o marido traga uns tostões para comprar um pão ou um cobertor. Não tive para mim, não me calhou. Quis para as minhas filhas.

O início da construção da igualdade
A minha mãe nunca namoriscou com um desconhecido, nunca dançou até amanhecer, nunca bebeu demasiado vinho, nunca viajou sem destino certo. A minha mãe só teve sexo com o homem com quem se casou e nada lhe importa mais do que os filhos. Somos quatro. Dois rapazes e duas raparigas. A todos, por vezes, ela telefona sem novidade: “Só liguei para ouvir a tua voz.”
Tanta proximidade e, mesmo assim, às vezes, tenho a sensação de que é outro o meu país.
Quando nasci, em 1975, Portugal estava a organizar a rede de saúde pública. Concebera um esquema de cuidados materno-infantis com avaliação de risco, parto em meio hospitalar, promoção da amamentação. Nasci no Hospital Dr. Nélio Mendonça, que se chamava Cruz de Carvalho e que a minha mãe chamava “hospital novo”.
Dezasseis dias depois de eu nascer, houve eleições para a Constituinte. “Eu queria votar. Deixei-te com a tua avó e fui.” Antes do 25 de Abril de 1974, as mulheres não podiam votar a menos que tivessem instrução equivalente ao curso de liceu ou fossem “chefes de família” (por viuvez ou marido ausente), e só se tivessem “idoneidade moral”. “Que pobre mulher podia votar aqui? Nenhuma que eu conhecesse!”
A mudança estava em marcha. A Constituição da República de 1976 estabeleceu um quadro igualitário. A reforma do Código Civil de 1977 veio pôr fim a muitas leis discriminatórias. E, pouco a pouco, novas leis e medidas começaram a ajudar a construir igualdade.
O direito de escolher
Eu tive meia dúzia de bonecas e outros brinquedos. Como os outros miúdos, ia à ribeira apanhar barro, que esculpia e punha a secar ao sol. Fazia carrinhos com cana vieira, arame e laranja. Punha uma saca debaixo do rabo e escorregava por uma ladeira que havia lá perto com as minhas primas e amigas. Longe de tudo, arranjávamos alternativa aos brinquedos da moda. Se, na televisão, havia miúdos a brincar com a Bota Botilde, mascote do programa 1,2,3 apresentado por Carlos Cruz na RTP, nós prendíamos uma sapatilha à ponta de uma corda, fazíamos um laço na outra, enfiávamos o pé e saltávamos. Por altura do Festival RTP da Canção, elas gostavam de cantar e eu de entrevistá-las. Enfiava uma batata num garfo e simulava um microfone.
A minha irmã, sete anos mais nova, teve mais de duas dezenas de bonecas e um triciclo. Mesmo assim, fazíamos bolas de sabão com cana vieira, apanhávamos girinos com latas, caçávamos lagartixas com laços de erva rija. Nas orelhas, pendurávamos fúcsias, “brincos de princesa”. E nos dedos enfiávamos digitalis purpurea, as campainhas, a que chamávamos unhas de bruxa. Podíamos ser princesas e bruxas ao mesmo tempo.
Um belo dia, anunciei que queria ser jornalista. O meu pai deu-me um valente não. As jornalistas “não têm hora para chegar a casa”. As jornalistas “andam de noite”. As jornalistas “falam com um e com outro”. O meu pai queria que eu me tornasse professora primária. Essa, sim, era uma profissão “apropriada para uma mulher séria”. Garantia um horário ajustado a quem tinha de cuidar da casa, do marido, dos filhos.
Fiz-me jornalista. Não contra tudo e todos, mas graças ao Serviço Nacional de Saúde, à educação pública, à rede de bibliotecas (a pública e a da Gulbenkian) e ao esforço da minha mãe e do meu pai, que na hora certa já não questionaram a minha opção, dispuseram-se a trabalhar ainda mais para me “dar estudos”.
Era um tempo de euforia. Portugal entrara na Comunidade Económica Europeia, agora União Europeia, em 1986. Havia uma firme crença na educação como factor de ascensão e de emancipação. Entre 1984 e 1994 o número de inscritos nas universidades e politécnicos subiu de 95 mil para quase 270 mil.
A mudança acontecia na nossa e noutras casas. Desde o princípio da década de 80 que as mulheres estavam em maioria entre os candidatos ao ensino superior. No ano em que eu entrei, 1994, representavam 55% dos inscritos no ensino superior, segundo o Observatório da Ciência e do Ensino Superior.
A esse ritmo, num instante as mulheres ultrapassaram a desigualdade em matéria de acesso à educação. Ainda agora, um menor número de raparigas abandona a escola precocemente e um maior número conclui o ensino superior. De acordo com o já referido estudo sobre igualdade de género ao longo da vida, em 2016, na faixa etária dos 25/49 anos, 35,3% das mulheres e 23,3% dos homens tinham completado pelo menos um grau do ensino superior.
Inconformadas, as mulheres têm derrubado barreiras invisíveis e avançado, de cabeça erguida, para áreas tradicionalmente ocupadas por homens. Em 2015, já eram maioria entre procuradores (62%) e juízes (58%), por exemplo. Os homens, porém, mantêm a maior parte dos lugares de topo ou de prestígio.
Está visto que a educação, sozinha, não chega para construir a igualdade. O Instituto Europeu para a Igualdade de Género tem compilado dados comparativos que o provam. Há um fosso salarial em todos os países da União Europeia.
No ano passado, já a preparar a saída da direcção daquele instituto que ajudou a criar, Virginija Langbakk comentava com desgosto como as causas se repetem de país para país. Por todo o lado, via forte participação das mulheres nos sectores económicos com menor remuneração, predominância feminina nos diversos tipos de precariedade, discriminação directa. A desigualdade começa na preferência dada aos homens logo no recrutamento profissional. Passa pela imposição de limites à progressão na carreira, o famoso tecto de vidro, e pela saída precoce do mercado de trabalho. E vai até ao maior risco de pobreza. Tudo isto se conjuga com a ideia de que as mulheres, antes de serem profissionais, são cuidadoras e os homens o seu contrário, pelo que estão menos dispostos a interromper o trabalho ou a carreira, estão mais disponíveis para trabalhar mais horas e até para mudar de sítio, se for preciso.
Vale a pena voltar ao estudo coordenado por Anália Torres para perceber como isto se reflecte em Portugal. As jovens até 29 anos têm um salário médio/hora de 5,8 euros – os jovens de 6,1 euros. Entre os 30 e os 40 anos, em que a vida de muitos é uma corrida entre o trabalho pago e o trabalho não pago, as disparidades agudizam-se: as mulheres ganham em média 10,3 euros/hora e os homens 11,4 euros. E, a partir dos 60 anos de idade, pior ainda: elas auferem um salário médio de 8,93 euros/hora e eles de 12,88/hora.
Criar consciência
O jornalismo é uma forma de compreender o mundo. Desde o princípio, em 1999, tenho tentado compreendê-lo pela perspectiva dos “de baixo”, dos “do fundo”, dos “das traseiras”, em suma, dos “sem poder”. E esse tem sido um lugar privilegiado para observar este que é o verdadeiro processo revolucionário em curso.
Não sei até que ponto o crescente número de mulheres na profissão tem contribuído para trazer para a agenda pública temas como a violência doméstica, a discriminação laboral ou a necessidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar, alertando para as injustiças, revelando boas práticas, abrindo espaço de debate, criando consciência pública.
Um estudo recente – conduzido em 2016 por Miguel Crespo e outros investigadores do CIES/ISCTE-IUL e pelo Sindicato dos Jornalistas – indica que as mulheres já representam 41% do total de jornalistas com carteira profissional. Tanto eles como elas trabalham muitas horas, quase metade não tem relação conjugal e mais de metade não tem filhos.
Não sei até que ponto esse contexto contribuiu para o meu desinteresse pelo casamento. Sei que só há pouco encontrei o homem certo.
– Porque é que para si era tão importante eu me casar?
– Uma mulher casada chega a um lugar, vai de aliança no dedo, respeitam.
– Acha que isso ainda é assim?!
– Se a mulher não é casada, não tem aquele prestígio.
– Quando me casei, disse-me que já podia morrer descansada porque já tinha os filhos todos amparados. O que quer dizer com estar “amparado”?
– Ser casado é bom! A pessoa chegar à noite, ter a sua companhia, não ser sozinha. Ter uma dor, ter a quem cramar: olha, estou a sentir-me mal, vamos ao médico. Se estás sozinha e te sentes mal, a quem vais cramar, com a família tão longe?
– Ligo à linha saúde 24 [riso].
– Se der tempo!
Certa ocasião, a propósito do convívio entre várias gerações, ouvi o sociólogo João Queirós identificar os riscos enfrentados pelas classes médias e pelos segmentos das classes populares que investiram na educação dos filhos. Há uma distância que se pode ir alargando entre pais e filhos.
Numa sociedade em tão rápida mudança, talvez seja impossível evitar choques geracionais. Não sei dizer a quantidade de vezes que ouvi: quando é que te casas?; quando é que tens filhos?; olha que o tempo não perdoa; olha que não vais para nova; e depois? quando fores velha, quem vai cuidar de ti?
A minha mãe nunca se fechou nas suas certezas. Foi-se adaptando às mudanças, como muitas mulheres da sua geração: percebeu que nem todos os casamentos duram uma vida e entende que é muitíssimo melhor assim; nunca provocaria um aborto, mas votou pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez; só teve sexo com um homem, mas não condena quem tem experiência distinta e compreende que há quem sinta atracção por pessoas do mesmo sexo; saiu da escola cedo, mas gosta de ler livros e revistas e serve-se do tablet para fazer videochamadas a filhos e netos. E, apesar de tudo isso, sobrevive dentro dela, como se fosse inquebrável, o velho ideal de mulher abnegada e imbuída de amor maternal.
– Desta vez, ainda não me perguntou quando é que vou ter um filho.
– Ainda podes ter, mas não queres.
– O que lhe faz tanta impressão?
– Acho ridículo. Toda a mulher que não é freira deseja ser mãe.
– [risos].
– É o dom da vida.
– Não sou freira, não desejo ser mãe, sou extraterrestre? [risos]
– És trabalhadora. Sempre foste.
– Há então outras maneiras de ser mulher?
– Há. Tu mostraste-me que há e não foi agora, nem há um ano, nem há cinco.
– Quantas vezes me disse que me vou arrepender?
– E vais!
– Quantas vezes me perguntou quem é que vai cuidar de mim quando eu for velha?
– Eu hoje em dia já penso diferente. Tive quatro filhos. Um está em Caracas, um está em Madrid, uma está em Lisboa, outra no Porto.
– Pensar que ficou grávida de mim porque queria uma filha que lhe fizesse um chá!
– Eu já entendi que essa conversa de querer ter uma filha para me fazer um chá está errada.
– Um filho também pode fazer um chá.
– Eu tenho filhos para isso. Eu tenho filhos capazes de me dar um banho, se eu precisar, mas vivem todos longe. Há um que… talvez venha para perto de mim…
A partilha de responsabilidades
O índice de fecundidade está a cair desde o início da década de 70. Desde meados dos anos 80, a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho tem vindo a aumentar, rondando agora os 30 anos. Quem quer ter um filho e é fértil, com maior ou menor dificuldade, tende a tê-lo. O problema coloca-se com o segundo ou o terceiro filho. O último Inquérito à Fecundidade mostra que há muito quem deseje dar esse passo e não dê. Não é só a falta de dinheiro, a desadequação do horário das creches, a falta de retaguarda familiar, as exigências da vida profissional. Às costas da mulher continua o grosso do trabalho doméstico. É assim em todos os Estados-membros da União Europeia.
A minha irmã, que trabalha arduamente para se afirmar na alta cozinha, um mundo ainda tão dominado por homens, corresponde ao padrão de fecundidade das mulheres portuguesas: teve uma filha aos 33 anos. A minha mãe, que viveu aquilo a que a socióloga norte-americana Sharon Hayes chama “modelo intensivo” de maternidade, adora vê-la viver “o modelo extensivo”, que lhe permite conjugar o papel de mãe com o papel de profissional.
Era dia de Natal. Olhei para a mesa e lá estava (também) uma moderna metáfora da igualdade de género. Almoçámos um galo que o meu pai criou, matou, depenou e transportou. A minha irmã tinha de trabalhar, mas fez questão de preparar o delicioso assado na véspera. E o meu cunhado trouxe-o para a mesa, serviu a filha de três anos, serviu-se e sentou-se, atento.
– Ele cuida muito bem da sua filhinha –, comentou a minha mãe.
– É um homem moderno –, anuí.
– Ele cuida mais que muitas mães. Ele faz tudo. Ele não fala alto. A criança não treme com medo do pai. E assim uma mãe pode ir trabalhar descansada e deixar a sua filhinha com o pai.
– A igualdade não se constrói sem a participação dos homens.
Mal acabámos de almoçar, virei as costas aos adultos e assumi com grande deleite o papel de parceira de brincadeiras da minha sobrinha mais nova. Ela tem tantos brinquedos que nem dá para contar. A Princesa Elsa, a Doutora Brinquedos, o Mickey, a Minnie, a Masha e o Urso e muitos outros personagens das séries de TV. E puzzles, jogos didácticos, livros. Já começou a doar para aprender os valores de partilha e solidariedade. Cor-de-rosa é a sua cor preferida, mas por nós podia ser qualquer outra. Está a crescer com referências do que é ser menina, rapariga e mulher bem diferentes do que a avó, eu ou a mãe dela ou mesmo as primas que nasceram na Venezuela. Que identidade e que relações de género lhe será dado construir?
Ilustrações de Ivone Ralha
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.
Reveja o debate Fronteiras XXI “Como são e o que querem as mulheres?”