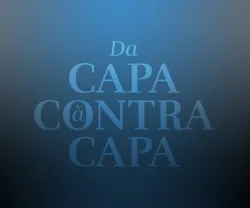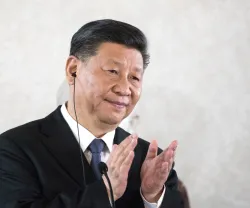Entrevista GPS #51: «A ignorância face à religião tem efeitos nocivos nos relacionamentos»
Quando se põem em marcha processos com vista à aproximação rápida ao tempo do fim (é essencial acharmos que estamos quase lá), dá-se o aumento da intolerância religiosa a par de um crescendo de extremismos (religiosos, xenófobos, étnicos, etc.).»
Pode descrever de forma sucinta (para nós, leigos) o que faz profissionalmente?
Os meus diplomas dizem que sou historiadora. Mas trabalho é com religião, o que faz de mim um misto de teóloga e historiadora da religião. O meu trabalho é interdisciplinar e depende de colaboração com colegas de várias áreas; é por natureza comparativo porque estou sempre interessada em estudar os fenómenos desde a sua génese até à sua manifestação em dado momento e espaço; e além disso, permite-me a aplicação em paralelo de abordagens tradicionais e muito inovadoras.
Eu explico por miúdos. Trabalho com apocalíptica, isto é, com temáticas relacionadas com a esperança sobre o fim do nosso mundo e a sua substituição por um mundo perfeito (normalmente, divino), o que é um tema religioso mas muito ligado a questões da actualidade. É um tema muito antigo que podemos localizar inicialmente na Pérsia (zoroastrismo), mas que é fundamental ao desenvolvimento da tradição judaico-cristã, e por conseguinte, da civilização Ocidental. De certa maneira, são ideias que dão esperança aos indivíduos e às comunidades sobre o dia de amanhã. Afinal todos nós queremos que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje, não é? Ou seja, apesar do carácter inicialmente religioso do conceito original, o facto, é que é uma ideia que é transversal à Humanidade que deveria ter um efeito positivo – promover a esperança num mundo melhor – mas que pode ter o efeito diametralmente oposto – justificar a tomada de medidas radicais como a xenofobia e as guerras santas para aproximar o nosso tempo do tempo do fim, e consequentemente, desse novo mundo que se quer perfeito (e mesmo divino).
Agora pedimos-lhe que tente contagiar-nos: o que há de particularmente entusiasmante na sua área de trabalho?
Trabalhar com esperança apocalíptica, isto é, a esperança sobre o fim deste nosso mundo e a sua substituição por um mundo melhor, é um desafio gigantesco. De certa maneira, permite-me compreender porque é que a civilização ocidental se desenvolveu com base no princípio de liderar a Humanidade em direcção ao estabelecimento do Reino de Deus. Mas, por outro lado, ver com muita clareza o efeito nocivo que a ignorância relativa à temática religiosa ao longo dos séculos pode ter no nosso relacionamento uns com os outros, além de observar como a religião se torna rapidamente no bode expiatório de todos os males da Humanidade. Quando se põem em marcha processos com vista à aproximação rápida ao tempo do fim (é essencial acharmos que estamos quase lá), dá-se o aumento da intolerância religiosa a par de um crescendo de extremismos (religiosos, xenófobos, étnicos, etc.). A esperança no estabelecimento de um mundo melhor é, de certa maneira, intrínseca ao ser humano. Dessa forma, justificam-se fenómenos tais como as várias formas de extinção religiosa e étnica, a Inquisição, conversões forçadas e as “guerras santas” (da Antiguidade aos nossos dias). Por outro lado, e pelas mesmas razões, vemos ao longo dos séculos indivíduos empenhados em promover tolerância religiosa e, consequentemente o diálogo inter-religioso – é que uma das condições essenciais para que o novo mundo aconteça é que toda a Humanidade esteja unida.
É esta dualidade – interpretações positivas e negativas – do fenómeno que me fascina. Afinal, como é que é possível que um fenómeno da Antiguidade, apoiado nos textos sagrados das Religiões do Livro, continue actual no século XXI? Como é que ele permite compreender que existam pessoas que se tenham organizado desde sempre em rede para tentarem decifrar a data do tempo do fim desenvolvendo a ciência e obterem um consenso inter-religioso sobre como chegarem a esse momento tão desejado? Como é que uma ideia que nos textos originais pede aos indivíduos resiliência e tenacidade face à longa espera e ao desespero que têm pela frente, se tenha transformado num dos argumentos mais facilmente utilizados e escutados no século XXI, estando mesmo na origem de fenómenos como o Daesh e os movimentos xenófobos e extremistas que assolam a actualidade? É, na realidade, a complexidade do fenómeno que me atrai e que todos os dias me faz estudar mais um pouco estas temáticas, sempre com esperança de promover o conhecimento para ajudar a diminuir a possibilidade do uso deste tipo de argumento por motivos que nada têm a ver com o seu objectivo original. Talvez, simplesmente, o meu desafio pessoal seja tornar esta ideia que pode ser letal em algo comum e facilmente compreendido por todos através da divulgação do conhecimento.
Por que motivos decidiu fazer períodos de investigação no estrangeiro e o que encontrou de inesperado nessa realidade académica?
Foi muito simples: saí de Portugal em Janeiro de 2005 para ir trabalhar com o maior especialista de literatura apocalíptica, o John J. Collins, em Yale, porque esse era um tema que não se estudava em Portugal e tudo quanto havia publicado à data sobre o tema ou era do John Collins ou do John J. Collins! Além disso tinha conseguido uma bolsa mista de doutoramento da FCT que me permitiu esse privilégio. Os seis meses transformaram-se em onze anos e meio nos EUA, onde a par de preparar o doutoramento e fazer o pós-doutoramento tive a sorte de dar aulas nas melhores universidades (Brown, Columbia, Yale). Depois disso regressei a Portugal para voltar a partir para Oxford. Só agora estou de volta na realidade a Portugal.
Lá fora sempre senti desde o primeiro dia que trabalhava entre colegas. Nunca fui uma aluna entre muitos outros, fui um colega júnior que se foi tornando sénior. Sentei-me sempre à mesa de seminários altamente especializados e tive sempre a oportunidade de aprender questionando e pensando com os grandes “monstros” da academia. Além disso, os recursos que nos oferecem são o Eldorado quando comparados com o panorama português a que estava habituada. Lá fora habituei-me a trabalhar 7 dias por semana, tantas horas quantas as bibliotecas estavam abertas. Habituei-me à competição, a ter um lugar à mesa de discussão entre os melhores, e acho que foi devido a isso que ocupei lugares de direcção em associações internacionais, organizei research groups e lancei uma colecção peer-reviewed na Brill. Acho que foi tudo isso que transformou os meus seis meses em catorze anos de “educated gypsy” sempre sem saber onde iria estar no dia seguinte. Foram os melhores e os piores anos da minha vida; vi um mundo novo, fantástico, e pernicioso porque quando nos oferecem todos os recursos, não há como dizer que não se pode fazer mais...
Que apreciação faz do panorama científico português, tanto na sua área como de uma forma mais geral?
Em Portugal fazem-se omeletes sem ovos. Nem sei como é que conseguimos fazer tanto com tão pouco. Tínhamos óptimos professores (falo no pretérito, porque actualmente os quadros de docentes das universidades estão muito envelhecidos e há muitos lugares por preencher deixando lacunas tremendas no nosso sistema), que se esforçavam por nos dar um background de conhecimento enorme o que fazia de nós assets cada vez que íamos para fora. Hoje, temos porventura a geração melhor preparada de sempre, mas que está espalhada pelos quatro cantos do mundo ao invés de enriquecer a Academia portuguesa.
Por cá, e na minha área, temos bibliotecas depauperadas (essenciais nas Humanidades), financiamentos baixíssimos que nos impedem de estar presentes em todos os eventos internacionais aos quais eu me tinha habituado a ir todos os anos, uma carreira docente com excessiva carga horária que não deixa tempo (leia-se: disponibilidade mental) para ler, pensar, imaginar, testar ideias, isto é, produzir ciência, a par de falta de recursos básicos como espaço de escritório. Um investigador como eu que acabei de ganhar um CEEC 2017 como Investigador Principal não tem uma secretária. Temos que andar todos os dias com uma mochila às costas na esperança de conseguirmos encontrar um sítio onde nos possamos sentar a trabalhar. No meu caso, no CH-ULisboa, isso dá-me a oportunidade de trabalhar lado-a-lado em regime de open space com os alunos de doutoramento e outros colegas. Mas na realidade, isto é uma condicionante que faz com que a minha biblioteca esteja em casa e que quando me pedirem para assegurar cadeiras vai fazer com que trabalhe de casa ao invés de na Faculdade, onde deveria estar disponível para alunos e colegas. A resiliência do sistema português deveria ser recompensada. Fazemos ciência ao nível dos melhores e somos líderes em várias áreas. Estava na altura de a minha geração poder retribuir ao país o investimento que fez connosco ao pagar-nos bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento. Mas ao mesmo tempo precisamos de recursos para que as nossas omeletes comecem a ter algum ovo lá dentro. Depois de tempo passado fora, seja um mês ou catorze anos, uma pessoa percebe muito claramente que a ciência só se faz em rede e que se nos autoimpusermos os limites geográficos do nosso cantinho à beira-mar plantado perdemos perspectiva. A Academia é feita por cidadãos do mundo e só dessa maneira é que nós podemos evoluir e criar conhecimento.
Que ferramentas do GPS lhe parecem particularmente interessantes, e porquê?
Acho que pertenço ao GPS desde o seu início. Sempre achei fundamental que nos conhecêssemos e que soubéssemos quem estava próximo. A PAPS foi também muito importante na minha carreira, exactamente porque nos permitia saber quem eram os portugueses nos EUA e o que faziam. Ao mesmo tempo, o GPS é uma ferramenta essencial para podermos saber o que fazem os cientistas portugueses e até onde é que a ciência portuguesa chega no mundo. A rede GPS tem também o mérito de facilitar o trabalho interdisciplinar, na medida em que podemos procurar colegas por áreas de conhecimento. Mas confesso que gostava de ver lá maior presença de colegas das Humanidades.
Consulte o perfil de Ana Valdez no GPS-Global Portuguese Scientists.
GPS é um projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a agência Ciência Viva e a Universidade de Aveiro.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor