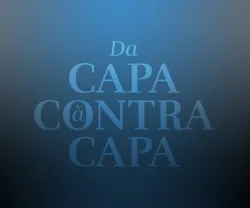Apresentação em Mogadouro do livro «Trás-os-Montes, o Nordeste»
«Não é só a recordação de um passado de miséria, desgraça e abandono, mas de um tempo sem esperança e dramaticamente medieval nas condições de vida que nós, velhos, sentimos dificuldade em conciliar a relativa abundância em que agora nos encontramos com a memória da realidade em que fomos criados.»
Mogadouro, 30-05-2017
Boa-tarde a todos.
Agora que o livrinho está aí, e eu me julgava com direito, se não a descansar, pelo menos a ir à minha vida, pedem as circunstâncias que, como dizem os brasileiros no seu pitoresco, mas muito expressivo idioma, eu bote falação.
Leva-me isso a enfrentar um dilema: encontrando-nos em Mogadouro, manda a cortesia que o meu agradecimento vá, em primeiro lugar, para o Senhor Presidente da Câmara. Dirão que é lógico e parece fácil. Parece, mas não é, pois acontece que sem a Fundação Francisco Manuel dos Santos não estaríamos aqui, nem haveria livrinho sobre o Nordeste transmontano. Agradeço assim, por igual, à Câmara e à Fundação, na pessoa de David Lopes.
Um agradecimento muito particular vai para Francisco José Viegas, amigo do peito, e aquele editor inteligente, dedicado, atento, com que todo o escritor sonha.
E para não abusar da paciência da assembleia, com a leitura de uma lista de nomes, permitam-me que concentre em Susana Norton, pessoa de invulgar delicadeza e cuidado, os agradecimentos, e não poucos, que a ela e aos mais são devidos.
Cumprida esta parte, talvez eu devesse agora alargar-me sobre os motivos que, impensadamente, me levaram a aceitar o convite de António Araújo, para escrever sobre Trás-os-Montes. Se o não faço, é para esconder o embaraço que me tomou depois da promessa feita, pois também eu sofro do mau hábito de prometer, sem ter a certeza de que serei capaz de cumprir.
Foi assim que, tarde e más horas, me dei conta que a oportunidade devia ter sido oferecida a alguém com menos idade e visão do futuro, pois é desanimador e de pouca esperança vir eu aqui remexer misérias passadas, que à maioria dos presentes nada dizem, ou são apenas eco daquelas conversas que os velhos têm à lareira, fingindo certezas de que antigamente é que era bom.
Eles e eu, que somos do mesmo tempo, sabemos que não era, e se por vezes, num momento de optimismo, afirmamos o contrário, coramos no íntimo, envergonhados da mentira.
Porque não é só a recordação de um passado de miséria, desgraça e abandono, mas de um tempo tão sem esperança, e tão dramaticamente medieval nas condições de vida, que nós, esses velhos, sentimos dificuldade em conciliar a relativa abundância em que agora nos encontramos, com a memória da realidade em que fomos criados.
Ao dizer, fomos, não consigo evitar um sentimento de culpa e vergonha, porque se fui testemunha, as privações que sofri e, curiosamente, não senti como tal, sofriam-nas pobres, ricos, remediados, ou pedintes: a terrível, e hoje inimaginável, ameaça da falta de água; a ausência de higiene; a tuberculose, o tifo, a malária, o antraz.
Quem vai acreditar que as ruas e as canelhas se enchiam de palha encharcada de urina, excrementos, e água da chuva? Que era esse, com as fezes dos animais de carga e dos rebanhos, o único adubo dos campos?
Retretes não havia, aliviam-se novos e velhos, homens, mulheres e crianças atrás dos muros. O penico era um luxo que poucos tinham, e em caso de doença se ia pedir emprestado. Só quem as sofreu acreditará nas nuvens de moscas, mosquitos e moscardos que enxameavam as ruas e as casas.
O começo de O Rebate, um romance que escrevi há quase cinquenta anos, mais que umas linhas de texto, continua a ser para mim o retrato de momentos que não esqueço:
“A água do chafariz cai às gotas, e os cântaros, alinhados ao longo do adro, esperam vez. As mulheres, amodorradas pela tarde, procuram a sombra, desbragadas, comidas de moscas, protegidas por xailes que foram da mãe, passados do preto ao verde ruço, a assoar neles os fedelhos que o sol não queima. O meio-dia não é apogeu, é morte, o sino toca à reza sem alegria, pesado, as mãos fazem o sinal da cruz, as conversas param, o cão levanta-se, derreado, língua de fora, hesita antes de lamber a água que cai da pia.
A Maria Moreira atira-lhe um pontapé, ergue o cântaro e põe outro sob a torneira.
- É capaz de ter raiva.
- Tem é fome.
Essa fome, lembro eu agora, era menos dos animais, que no monte iam procurar sustento, do que daqueles que, sem o pouco de terra onde pudessem fazer horta, ou colher algum fruto, apenas tinham os braços para garantir a sobrevivência.
Os seus filhos sabem-no, mas os netos, graças a Deus, ouvirão descrentes que é possível passar dias, semanas, meses, a comer pão e cebola, caldo de couves com um fio de azeite, ou aceitando a caridade de um vizinho abonado que, discretamente, mandava a mulher ou as filhas levar-lhes a casa um naco de presunto, uma abada de castanhas, ou o que tinha sobrado da ceia.
A circunstância do meu pai e do avô paterno, por serem guardas-fiscais terem um ordenado, e de vivermos todos na mesma casa em Gaia, contribuía, não somente para uma vida desafogada, mas resultou ter sido eu criado numa espécie de oásis.
Porque não era apenas uma casa onde não se passavam necessidades, mas onde havia livros, o dicionário Torrinha, o Grande Dicionário Universal Ilustrado Lello, a edição monumental de Gil Blas de Santilhana e, sobretudo, o jornal O Primeiro de Janeiro lido todos os dias, com um impacto bem superior ao que agora têm em mim as maravilhas de que hoje dispomos.
No nosso largo, e nas vielas das traseiras, testemunhava eu a pobreza, a tragédia e as chagas da miséria citadina, mas a falar verdade não estranhava nem me perturbavam os andrajos dos meus amigos, nem a violência animal com que os via disputar um pedaço de pão ou uma malga de sopa.
Tão-pouco me causavam nojo as suas pústulas, os vermes que lhes caíam do nariz, ou o ranho que ora lambiam, ora limpavam com o braço.
Eu nascera ali, crescia ali, mas se aqueles eram os meus amigos, não eram a minha gente. A sua desgraça observava-a eu menos com os olhos, do que através das leituras que fazia, o que me dava uma curiosamente distorcida, e muito romântica visão da pobreza e do sofrimento.
Aos dez anos, com os romances de Emílio Zola na mão, sentenciava eu que se deviam matar os ricos, e distribuir pelos pobres tudo o que eles possuíam, uma hecatombe a que escaparia o senhor Moreira, o nosso senhorio, porque embora fosse rico era boa pessoa, e a muitos que ali moravam não pedia aluguer.
Essa euforia de revolta proletária perdia-a eu nas temporadas que passávamos na aldeia. Mesmo que as não sofresse (em nossa casa havia três ou quatro penicos) todas aquelas misérias, desconfortos, doenças e situações me doíam na carne, não tinha maneira – e ainda hoje não tenho – de descartar o que deve ser herança genética. Outra explicação não encontro para o facto de, com a vida que levo, as facilidades e os confortos de que disponho, Trás-os-Montes me doer como dói.
Mas enfim, direi então: se tiverem tempo e vontade leiam o livrinho, levando em conta que o autor, nascido no começo do século passado, veio ao mundo com uma sobrecarga de recordações, medos, bruxas, espíritos malignos, fantasmas e lobisomens, com destaque para o relato que lhe fazia em miúdo uma tia-bisavó, contando a assustadora presença na nossa aldeia dos soldados de Napoleão.
Não deixem, contudo, que as misérias do passado, ou a melancolia de uma ou outra página, sejam motivo de pessimismo, pois é somente o testemunho de alguém que, transmontano de alma e coração, mais depressa se inclina para as sombras, do que para o brilho do Sol.
E que além disso, vivendo há muito noutras terras, involuntariamente observa e avalia com olhos de estrangeiro, o que por vezes o leva a distorcer a realidade e a sofrer aflições que, venham elas da memória, não são menos dolorosas.
Poderá isto soar patético, e de facto é, pois melhor que ninguém tenho eu consciência de que não há remédio em recordar tristezas. Tanto mais que, a quem as não viveu não servirão de ensino, antes tenderão eles a considerá-las folclore, repousando na certeza optimista de que o passado não volta.
Mas por vezes infelizmente volta, do que se dá conta quem lhe descobre o disfarce e vê, por detrás do brilho de modernidade, a verdadeira condição dos que continuam e continuarão a ter um nível de vida degradante.
Se querem ver o Nordeste transmontano, não olhem para o IC5, onde, aliás, raro passa um carro. Perguntem antes nas lojas das vilas como vai o negócio. E se forem às aldeias esperem pelas carrinhas do padeiro ou do merceeiro, vejam quantos fregueses lá vão, tirem as vossas conclusões.
Perdoem este divagar, deixem que retome a linha que perdi, e retorne para lhes dizer que Trás-os-Montes, no meu sentir, é mais que uma província, tem aspectos de nação, no significado que o dicionário dá à palavra: «o conjunto de indivíduos ligados pela mesma língua e por tradições, interesses e aspirações comuns.»
Mas desenganem-se, se lhes soa a separatismo. É apenas a constatação de que no todo do país Trás-os-Montes mostra algo de um enclave. Menos no sentido de pertença, do que no trato que lhe reserva o governo central, e do desconhecimento que dela têm os que vivem no Minho ou a sul do Douro, para não falar da estranheza que causa a tantos lisboetas, que tudo sabem de Londres, Nova Iorque e Oxford, mas serão incapazes de situar Mogadouro.
É possível que usando este tom eu dê ideia de que esse desconhecimento nos afecta e magoa. De facto assim é, mas só no que respeita o desleixo e o desinteresse dos governantes que, fossem eles, como se dizem, patriotas e democratas, deveriam acudir a todos por igual, e não em função do número de votos.
No mais é muito nosso o orgulho da independência, e o pouco gosto que temos pela mão estendida, qualidades que nos vêm dos séculos de vida dura nos montes agrestes onde temos berço.
Sim, a vida é dura em Trás-os-Montes. O que pouco a pouco nos vai chegando de progresso e facilidades da vida moderna, não basta para fazer contrapeso ao nosso atraso, nem nos dá esperança de mudança e melhoria em futuro próximo.
Mas será isso um mal, e de facto culpa alheia, posso eu perguntar, tomando a mim o papel de advogado do Diabo? Talvez não tanto como parece, pois se há verdade no desleixo a que nos têm votado, há igualmente verdade no extremo individualismo do transmontano, sempre a temer que haja alguém a mandar nele, avesso a colaborar, de pé atrás se o que lhe propõem não condiz com a sua expectativa.
Tratado por outro, Trás-os-Montes é tema que, como se costuma dizer, daria pano para mangas e horas de conferência. A mim, que sou de poucas falas, tirou-me o sono a sugestão que discursasse vinte minutos. Conhecendo-me bem, sei da fraca sonoridade da minha voz, da dicção atabalhoada, da pressa que não consigo esconder de pôr fim ao martírio.
Foi por isso que, uma vez terminada a escrita destas páginas, peguei num cronómetro e comecei a ler pausadamente, cuidadosamente, obedecendo à pontuação, evitando tropeçar nos ditongos, mas o resultado foram uns magros dez minutos.
Repete-se agora o sentimento que então tive, o de que iria ficar em dívida e o remorso de não ter cumprido o que de mim talvez esperavam. Por outro lado estou certo de que não mo levarão a mal.
Muito obrigado a todos, pela honra que me dão de terem vindo.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.