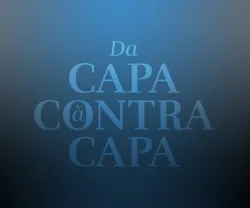Entrevista GPS #48: «O Mosteiro dos Jerónimos não representa necessariamente Portugal»
«O património cultural nunca é sobre o passado. É sobre como o passado é pensado hoje, e sobre como a nossa sociedade mobiliza aspectos do passado para legitimizar as suas ideias sobre o presente e o futuro.»
Pode descrever de forma sucinta (para nós, leigos) o que faz profissionalmente?
Sou arqueólogo e neste momento estou a fazer um pós-doutoramento no programa de ‘Cultural Heritage and Preservation Studies’, no Departamento de História de Arte da Universidade de Rutgers, Nova Jérsia. Enquanto arqueólogo trabalho sobre o mundo moderno, ou seja, sobre o que aconteceu aproximadamente nos últimos 500 anos. Muitas pessoas estranharão que um arqueólogo se dedique a uma parte da nossa história que é tão recente. Na verdade, a arqueologia é a disciplina que estuda a humanidade a partir da cultura material—objectos, paisagens, arquitectura, entre outras coisas. Para os arqueólogos, tanto faz se essa cultural material seja de ontem ou de há 10.000 anos. Aquilo que distingue os arqueólogos, independentemente do período histórico a que se dedicam, são as questões que colocam sobre o passado e os métodos que utilizam enquanto tentam responder. A emergência do mundo moderno foi um processo marcado por muitas variáveis que deixaram um lastro muito forte nas sociedades actuais. Por exemplo o capitalismo, o colonialismo e o estado-nação. No entanto, o que é que sabemos realmente sobre como tudo isso desenrolou? Até muito recentemente, só uma elite muito reduzida lia e escrevia. E mesmo lendo e escrevendo, raramente o fizeram de forma sistemática ou analítica sobe o que se passava nas suas vidas. Os arqueólogos estudam a materialidade, comum a toda a gente independentemente de se pensar, ler e escrever sobre ela.
Como parte do meu programa de pós-doutoramento dou aulas de teoria e métodos no estudo do património cultural. De uma maneira geral, a sociedade tem tendência a assumir que o património cultural é tudo o que foi feito no passado, que os nossos antepassados nos legaram de geração em geração. No entanto, tudo aquilo a que chamamos património cultural foi criado num determinado contexto social e político de acordo com valores que não têm nada de universal. Por exemplo, quando pensamos num símbolo de Portugal, ocorre-nos o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Aceitamos de bom grado que se preserve o mosteiro, e que se invista nele dinheiro para que continue a representar o património cultural português. Dificilmente pensaremos nas ruínas de uma fábrica de conservas em Setúbal ou nas casas modestas dos operários como um património representativo da nação, que devia ser reabilitado e divulgado internacionalmente como um símbolo maior. Porque é que isso acontece? Muito simplesmente, o Mosteiro dos Jerónimos é desde sempre um monumento que representa o poder, e que sempre ajudou a legitimar esse poder. É a história desse poder que é transmitida nas escolas, onde nos dizem o que é importante como património. Nas minhas aulas, ou nos trabalhos de campo, faço com que os alunos se questionem sobre estas histórias e sobre as relações de poder subjacentes. O património cultural nunca é sobre o passado. É sobre como o passado é pensado hoje, e sobre como a nossa sociedade mobiliza aspectos do passado para legitimizar as suas ideias sobre o presente e o futuro. É por isso que as minhas aulas começam sempre com a pergunta: que tipo de sociedade queremos?
Agora pedimos-lhe que tente contagiar-nos: o que há de particularmente entusiasmante na sua área de trabalho?
Volto à questão que acabei de formular, sobre que tipo de sociedade queremos. Respondo a essa pergunta de maneira muito directa num dos projetos arqueológicos que estou a desenvolver: quero uma sociedade acolhedora, mais justa. No projeto ‘Cambedo 1946—Arqueologia da Resistência na Raia Galego-Portuguesa’ trabalho sobre uma aldeia do concelho de Chaves, Cambedo, que acolheu refugiados durante um dos períodos mais sinistros da nossa história recente. Com o final da Guerra Civil espanhola (1936-1939), muita gente tentou fugir da miséria e da repressão para Portugal. Claro que, em Portugal, o Salazar estava no poder e as coisas não estavam melhores. No entanto, houve sempre pessoas muito modestas das aldeias fronteiriças que se disponibilizaram a acolher quem precisava. Em Dezembro de 1946, as autoridades de Salazar decidiram por cobro a isso, sobretudo porque muitos dos refugiados eram também resistentes à ditadura espanhola. As autoridades cercaram Cambedo, houve um tiroteiro e um bombardeamento com morteiros. De entre as casas afectadas, a da dona Albertina foi a que ficou em pior estado e nunca foi reconstruída. No ano passado, fui até lá com uma equipa de arqueólogas e arqueólogos para escavarmos essa casa e encontrarmos mais refúgios na serra em redor da aldeia. Com esse trabalho documentámos o que era o modo de vida da aldeia naquela época. Uma vida muito simples, que foi submetida à brutalidade de uma guerra industrial. A senhora ficou com a casa queimada e perdeu quase tudo. Também escavámos um abrigo natural na serra, onde os resistentes se escondiam. Não encontrámos nada lá dentro. Isso quer dizer uma coisa muito importante: os refugiados tornaram-se parte da aldeia. Só subiam à serra quando estavam em perigo, e por isso não levavam nada com eles que pudesse ser descartado.
A aldeia de Cambedo encerra uma lição muito importante. Todos os dias há milhares de pessoas nas fronteiras da Europa, fugindo de guerras e de outros problemas. No entanto, a generalidade dos estados europeus não está a dar respostas adequadas a essas pessoas. Trata-se de uma crise humanitária. Os vestígios arqueológicos do que aconteceu em Cambedo em 1946 mostram que há alternativas a esta crise. Em 1946, aquelas pessoas na fronteira tentaram resolver a crise humanitária da época, ainda que não exprimissem ou pensassem as coisas dessa forma. E fizeram-no correndo muitos riscos pessoais, tanto que muitas delas foram parar à prisão e foram interrogadas pela polícia política. Uma criança de Cambedo até morreu numa cadeia do Porto. O refúgio na serra, a casa e as louças da dona Albertina destruídas pelo bombardeamento: isto é o tipo de património que nos importa hoje, e que mostra que apesar de todas as dificuldades é possível fazer diferente. É através destas coisas que eu imagino o meu país, como lugar de justiça e acolhimento. O Mosteiro dos Jerónimos e monumentos desse tipo não representam necessariamente o meu país e eu acho entusiasmante pensar que há tantos “países" diferentes dentro de Portugal, ainda à espera de serem encontrados.
Por que motivos decidiu fazer períodos de investigação no estrangeiro e o que encontrou de inesperado nessa realidade académica?
Saí de Portugal em 2010. Primeiro fui para o Pará, um dos estados do Norte do Brasil, para trabalhar em projectos de arqueologia na região amazónica. Essa foi uma das melhores decisões que fiz na vida. No Brasil, as discussões sobre o papel social da arqueologia são muito intensas. De um modo geral, espera-se que a arqueologia seja uma maneira de estudar e explicar o passado, mas também que as questões científicas e os resultados das pesquisas tenham um impacto na sociedade atual. Esse impacto pode ser educativo, mas também político. Estar no Brasil fez-me perceber que a arqueologia me interessa na medida em que é relevante no presente, para as pessoas do presente.
Depois fui para os Estados Unidos para fazer o doutoramento na Binghamton University. Quis ir para esta universidade para trabalhar com Randall H. McGuire. Entre outras coisas, ele estuda os processos que geram desigualdades sociais, e como as pessoas resistem a essas desigualdades. Continuei a trabalhar sobre o Brasil, com uma tese sobre a paisagem da escravidão no vale do Paraíba, no Rio de Janeiro do séc. XIX. A minha circulação entre o Brasil, os Estados Unidos e outros lugares onde fui trabalhando possibilitou-me criar uma rede de pessoas com interesses e preocupações afins. Isso é uma das coisas mais importantes na minha vida profissional: trabalhar em rede, discutir ideias e criar projetos em comum. O meu pós-doutoramento na Rutgers foi uma continuação natural desse processo. O programa em que estou a trabalhar é um dos poucos nos Estados Unidos onde se faz o meu tipo de trabalho. Saí de Portugal mas, onde quer que vou, encontro uma segunda casa.
Que apreciação faz do panorama científico português, tanto na sua área como de uma forma mais geral?
Tal como noutras áreas científicas, a arqueologia portuguesa é feita por pessoas altamente qualificadas que estão sujeitas a um desinvestimento crónico na ciência. Temos a geração mais bem preparada de sempre, mas não existem mecanismos de financiamento adequados nem perspectivas de carreira. No caso da arqueologia, assim como de outras humanidades e ciências sociais, o problema é ainda pior. Num pequeno país como o nosso, o estado deve assumir a responsabilidade de fazer com que o investimento público na educação beneficie o país a longo prazo. É uma contradição tremenda que o estado financie doutoramentos e depois as universidades não contratem esses doutorados, ou que não exista uma carreira científica em que esses doutorados possam desenvolver o seu trabalho. A longo prazo estes problemas serão fatais porque não nos permitem competir em programas de financiamento internacionais em pé de igualdade com pesquisadores de países centrais. Como é que se pode esperar que um investigador com um contrato temporário, que está à espera dos resultados atrasados do último concurso científico e não sabe se pode pagar a renda do próximo mês, possa preparar um projecto de impacto internacional? A falta de dinheiro é um falso problema, porque todos os dias lemos notícias sobre dinheiro público mal gasto. É uma questão de prioridade política. O que acontece é que, mais tarde ou mais cedo, os investigadores saem do país e os estudantes com interesse pela investigação científica fazem outras escolhas profissionais. Não é um problema que os cientistas saiam de Portugal, e na verdade acho que deviam sair e circular cada vez mais. O problema é que o façam apenas porque, querendo estar em Portugal, não o possam fazer.
Apesar de tudo isto, penso também que os cientistas deviam assumir cada vez mais as suas responsabilidades sociais. Essas responsabilidades têm que ver com a partilha e divulgação do conhecimento científico para públicos não-especializados. Há experiências muito positivas. Ao nível da arqueologia, por exemplo, a Associação dos Arqueólogos Portugueses tem organizado a ‘Festa da Arqueologia’ nas ruínas do Carmo em Lisboa. É uma espécie de mostra do que se faz na minha área, vocacionada para as famílias e os estudantes. Mas escrever artigos em revistas indexadas e divulgar não é suficiente. Os cientistas, especialmente nas humanidades e ciências sociais, devem fazer uso do seu conhecimento e intervir publicamente quando se trata de discutir as grandes questões que importam à sociedade. Os debates públicos não devem ser apenas material para analisar e discutir em revistas especializadas e livros. Por exemplo, nos últimos dois anos emergiram dois debates importantes: o debate sobre o chamado "Museu da Descoberta” em Lisboa, e o debate sobre a descolonização dos museus. Estes debates têm tido ramificações muito diversas, e serviram também para expor em público o racismo estrutural e a mitologia colonialista que ainda permeia a sociedade portuguesa. No entanto, poucos académicos e investigadores qualificados entram nesses debates para além dos comentários nas redes sociais. Não chega. Temos a responsabilidade de intervir publicamente e tentar mudar o estado das coisas.
Que ferramentas do GPS lhe parecem particularmente interessantes, e porquê?
O GPS é uma ideia excelente, que potencia a criação de redes e oportunidades diversas. Fiquei a saber do GPS quando me mudei de Nova Iorque para Nova Jérsia, e serviu para encontrar uma colega com quem tenho muitos interesses em comum. Espero que continue a crescer!
Consulte o perfil de Rui Gomes Coelho no GPS-Global Portuguese Scientists.
GPS é um projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a agência Ciência Viva e a Universidade de Aveiro.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.