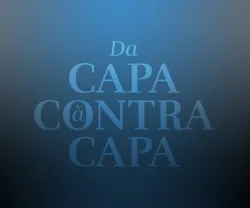Jornalismo e democracia
Democracia e jornalismo precisam de liberdade. Será insuficiente, mas sem ela são uma farsa. Ficou célebre a ideia de Thomas Jeffersson, que antes de se tornar o terceiro presidente dos EUA, em 1787, disse:
«Se tivesse que escolher entre um governo sem jornais ou jornais sem um governo, não hesitaria em preferir a segunda hipótese.»
Esta defesa do jornalismo enquanto garante essencial de liberdade é sempre muito citada. Menos citada é a opinião de Jeffersson 20 anos depois, após ter convivido com a Imprensa a partir da Casa Branca. O New York Times lembrou-a há cerca de um ano, em editorial, quando se associou à iniciativa do Boston Globe de juntar centenas de jornais em defesa da imprensa livre. Dizia então Jeffersson:
«Agora não se pode acreditar em nada do que vem nos jornais. A própria verdade se torna suspeita ao ser colocada naquele veículo poluído».
Vale a pena recorrer à memória por estes dias de incerteza. E vale a pena voltar ao editorial do New York Times:
«O desconforto de Jefferson foi e continua a ser compreensível. Dar notícias numa sociedade aberta é uma tarefa cheia de conflitos. O seu desconforto também ilustra a necessidade do direito que ele ajudou a consagrar. Como os fundadores acreditavam por experiência própria, um público bem informado está mais preparado para erradicar a corrupção e, a longo prazo, promover a liberdade e a justiça.
‘A discussão pública é um dever político’, disse o Supremo Tribunal em 1964. Essa discussão deve ser ‘desinibida, robusta e aberta’ e ‘pode incluir ataques veementes, cáusticos e algumas vezes desagradavelmente agudos ao governo e funcionários públicos’.
Em 2018, alguns dos ataques mais prejudiciais são provenientes de funcionários do governo. Criticar os media – por subestimarem ou exagerarem nas histórias, por entenderem algo errado – está inteiramente certo. Repórteres e editores de notícias são humanos e cometem erros. Corrigi-los é fundamental para o nosso trabalho. Mas insistir que verdades das quais não gostamos são ‘notícias falsas’ é perigoso para a alma da democracia. E chamar jornalistas de ‘inimigos do povo’ é perigoso, ponto final.
Esses ataques à imprensa são particularmente ameaçadores para jornalistas em nações com um estado de direito menos seguro e para publicações menores nos Estados Unidos, já atingidas pela crise económica do setor. E, no entanto, os jornalistas desses jornais continuam a fazer o trabalho duro de fazer perguntas e contar as histórias que, de outra forma, não conheceríamos.»
Editorial do NYT, 15 de Agosto, 2018
No mesmo ano em que Jefferson valorizava os jornais, o deputado britânico Edmund Burke dizia algo curioso para a época, nos Comuns:
«Há 3 poderes no Parlamento, mas na tribuna da Imprensa senta-se um 4º poder, mais importante do que os 3 reunidos.»
Referia-se aos jornais, que davam os primeiros passos.
A Revolução Francesa viria dois anos depois e a proclamada liberdade foi demasiadas vezes contraditória com a liberdade de expressão e de imprensa. E não só.
No início dos anos 30, do século XIX, um conde francês, Alexis de Tocqueville, visitou os Estados Unidos à procura da experiência fundadora da primeira democracia representativa moderna. Aí percebeu que, para podermos viver em democracia, a liberdade de expressão deve ser intocável. Escreveu:
«A soberania do povo só se realiza pela liberdade e pela concorrência entre os jornais.»
Curiosamente, ao descrever os poderes americanos estabeleceu a seguinte hierarquia:
1º – o poder federal, com a separação clássica entre o legislativo, o executivo e o judicial
2.º – o poder estadual, local
3.º – o poder associativo ou da sociedade civil e a imprensa como 4º poder.
E aqui notamos uma diferença fundamental em relação ao entendimento que, por exemplo, os franceses tinham da declinação dos poderes: a desconsideração dos poderes locais e da sociedade civil. Ora, mais do que um poder, a comunicação social exercia, e exerce, uma influência, influência face à generalidade dos poderes e no seio da sociedade civil.
Os pais fundadores da democracia americana, que ficaram conhecidos como Os Federalistas, não tinham ilusões benevolentes sobre a condição humana. Por isso, James Madison se preocupou com freios e contrapesos: «Que a ambição contrabalance a ambição.»
Dizia ainda Madison: «Se os homens fossem anjos nenhuma espécie de governo seria necessária. Se fossem os anjos a governar os homens, não seriam necessários controlos externos nem internos sobre o governo.»
Mas, como os homens são homens, é preciso habilitar o governo a controlar os governados e, depois, obrigar o governo a controlar-se a si próprio. Múltiplos controlos e múltiplas partilhas numa sociedade pluralista em que é tão importante defender os governados da opressão dos seus governantes como defender cada parte da sociedade da injustiça da outra parte. Princípios vitais para uma democracia que contagiou o mundo desde a Revolução Americana. Foram os totalitarismos dos séc. XX que a colocaram em crise. Só no pós-guerra começou a reabilitar-se.
A liberdade é, portanto, uma condição da democracia. Parece óbvio, mas nem por isso é um adquirido, seja porque a liberdade é um bem raro (segundo os dados da Freedom House, apenas 40% da população mundial é realmente livre); seja porque as ‘democracias plenas’ não vão além das duas dezenas de países e as ‘democracias fracas’ chegam apenas a seis dezenas de países (dados da Economist, que avalia o pluralismo, as liberdades civis e a cultura política).
Portugal é encarado como uma ‘democracia fraca’ e aparece em 33º lugar. Ainda assim, os progressos democráticos mundiais são significativos. Paradoxalmente, nunca terá sido tão grande a insatisfação com a democracia. Para este mal-estar contribuíram rupturas e insatisfações várias. Num livro recente, «Danser sur un Vulcan», o economista francês Nicolas Baverez detecta 3 rupturas fundamentais:
- a perda do monopólio da condução dos negócios do mundo por parte do Ocidente;
- a crise do Estado-Nação;
- a falta de vontade e de meios dos Estados Unidos no sentido de garantirem a estabilidade do capitalismo e da geopolítica da globalização.
Tudo isto acelerou a História. Comprovam-no a expansão bárbara do Daesh e a guerra interna no Islão, o ressurgimento dos impérios (China, Rússia, Turquia), dos nacionalismos, a crise dos refugiados, a desregulação das finanças e das economias, a ascensão de Donald Trump como presidente americano, a ameaça renovada das armas nucleares, o progresso da era digital ou as pulsões fragmentárias na União Europeia. Tudo conjugado produz uma desestabilização profunda dos Estados e das democracias.
Daniel Ziblatt, um cientista político e professor na Universidade de Harvard, enunciou em entrevista ao Público alguns critérios que ajudam a avaliar os perigos que atravessa a democracia contemporânea, nomeadamente a americana. A saber:
- fraco compromisso com as normas democráticas
- negação da legitimidade dos adversários políticos
- tolerância ou encorajamento da violência
- predisposição para limitar as liberdades cívicas dos opositores, incluindo os media.
Há sinais preocupantes, diz Ziblatt, e Donald Trump é o rosto da preocupação e da ameaça. Desde logo porque viola normas democráticas, mente, ataca e tenta condicionar os media, tenta politizar as instituições do Estado de direito (as ligações à Rússia são um exemplo) e fomenta a polarização radical na política americana. Não é caso único. Na Hungria ou na Polónia assistimos a condicionamentos graves à liberdade de imprensa e até à separação de poderes.
A regressão, ou o que se tem chamado de «fadiga democrática», reflecte uma mudança de valores. Desvalorizam-se as liberdades individuais a favor de identidades nacionais, religiosas, culturais. O fracasso de governos e partidos, a falência das políticas financeiras, o descrédito de muitos políticos, abriu portas ao engano e ao simplismo de demagogos e populistas.
O jornalismo não é alheio a estes movimentos e transformações. E, sobretudo, atravessou, continua a atravessar, profundas mudanças tecnológicas. O advento da Internet e depois das redes sociais criaram novos ambientes de comunicação e informação. Na última década, os jornais diários perderam cerca de metade da sua circulação impressa e 70% das receitas publicitárias. Em contrapartida, multiplicaram a sua audiência digital. Chegam a muitos milhões de utilizadores, embora os seus modelos de negócio não tenham conseguido nem recuperar as receitas perdidas nem equilibrar as contas. Nos países mais desenvolvidos, mais de 60% dos leitores recebem as notícias em dispositivos móveis, sejam smartphones, sejam tablets. Os circuitos de comunicação são fáceis e têm um enorme potencial de crescimento, de velocidade de transmissão e de partilha.
O jornalista deixou de ter o exclusivo da mediação e da produção informativa. Todos podemos entrar nas redes, produzir e partilhar informação e influenciar o debate público. Do mesmo modo que tudo, ou quase tudo, pode vir à rede: rumores, especulações, manipulações, propaganda, difamações, invasão da privacidade, até… verdades e informação rigorosa…
Vivemos – dizem-nos – no tempo da pós-verdade. Há algumas décadas, a Filosofia queria convencer-nos de que não havia verdade, mas apenas interpretação. Hoje, a verdade parece coisa do passado, o relativismo confunde-se com crença ou convicção. Tudo pode vir à Rede. Tornou-se mais difícil discernir o que é verdadeiro do que é falso. As «fake news» tornaram-se armas de arremesso. Não são apenas falsas, são inventadas para serem verosímeis, para confundirem e manipularem os menos cépticos.
Passámos do perigo de se acreditar em tudo o que está online para o perigo de não se acreditar em nada do que se lê. Pior, há quem pense que a diferença entre a verdade e a mentira é mera questão de opção.
Os factos desvalorizaram-se a favor das emoções, dos afectos ou das crenças. Parece ser mais eficaz criar uma mentira conveniente do que contar uma verdade. Nunca a informação foi tão acessível. Nunca terá sido tão duvidosa.
Lemos o que interessa? O que nos interessa? Ou o que outros julgam interessar-nos? É a informação que nos escolhe? Ou somos nós que a procuramos?
O «news feed», o fio da actualidade, que se atravessa nas redes que frequentamos, resulta muitas vezes de filtros e escolhas, que são construções de algoritmos baseados no histórico das nossas navegações, das partilhas, likes, relações, conversas, consumos e de muito que não sabemos, mas que outros sabem a nosso respeito.
Num artigo recente, o Washington Post revelava que o Facebook recolhe 98 tipos de dados sobre cada um dos 2 mil milhões de utilizadores: etnia, rendimento, património, residência, família, religião, automóvel, saúde, gostos, restaurantes, livros, férias e muitos outros. Que faz com eles? Vende-os aos anunciantes, organiza-os para personalizar todo o tipo de mensagens que pressupostamente nos devem interessar.
Na economia ou na política, a grande questão que se coloca é a de saber se seremos, ou não, fáceis de manipular. Talvez sejamos. Desde logo porque não nos apercebemos de que muita da informação que é colocada ao nosso dispor é apenas a que vai ao encontro do nosso perfil, das nossas preferências. Nem sempre nos confrontamos com informação contrastada, nem sempre nos confrontamos com outros pontos de vista. Como nem sempre nos apercebemos de operações concertadas de intoxicação, ciberataques, que têm ocorrido com frequência, por exemplo, na proximidade de actos eleitorais. A Rússia, através de alguns órgãos de comunicação financiados pelo Kremlin, como o Russia Today e a Sputnik, multiplicaram a difusão de mentiras, seja nas eleições americanas, francesas, italianas, no Brexit, na Catalunha…
A revista The Atlantic (Outubro 2018) colocou na capa uma interrogação: «Está a democracia a morrer?» Nela, a jornalista americana Anne Applebaum deixa um aviso a partir da Polónia: qualquer sociedade se pode virar contra a democracia; um Estado de partido único pode ser visto como mais justo do que uma democracia competitiva. E questiona: «Porque deve ser permitido a diferentes partidos competir se apenas um deles tem o direito moral a formar governo?» A jornalista é casada com um antigo ministro de dois governos polacos de centro-direita, mas nem por isso deixou de ser acusada de ser «a coordenadora judia clandestina da imprensa internacional e responsável secreta pela sua cobertura negativa da Polónia».
Applebaum lembra o papel das mentiras (grandes ou médias mentiras) na polarização política. Procura-se uma realidade alternativa com a ajuda de ferramentas do marketing, segmentações de público-alvo e campanhas nas redes sociais. Na Polónia, a mentira fundadora tem a ver com a queda do avião do presidente Lech Kaczynski, em Smolensk, em 2010, e que conduziu à ascensão do seu irmão gémeo, Jaroslaw Kaczynski. Mentira assente em teorias da conspiração, que criaram condições para derivas autoritárias. Resultado: qualquer um que siga a crença na mentira de Smolensk é, por definição, um verdadeiro patriota, bom candidato a um emprego no governo. O apelo emocional favorece a adesão e a ilusão do mérito e do merecimento legitimam estados não liberais, como se diz agora, que se aproximam cada vez mais de estados autoritários.
Por estes dias, assaltam-me as memórias do «Mundo de Ontem», de Stefan Zweig, o cosmopolita vienense que atravessou o mundo em duas guerras nunca antes vistas, que tinha o sonho de uma Europa aberta, sem fronteiras nem despotismos. Lembro o «Tratado Sobre os Nossos Descontentamentos», de Tony Judt, tão actual e interpelador: os problemas da incerteza e da desconfiança, estimuladas pelas desigualdades; o problema das identidades; o declínio dos propósitos colectivos, do sentido de comunidade, das afinidades; o défice democrático, de participação política; o cinismo com que olhamos políticos, os nossos representantes e as instituições; os políticos fracos, que não transmitem convicção nem autoridade («pigmeus», chama-lhes Judt); o que nos une em objectivos louváveis, mas que é mais emoção do que razão; o muito que nos ajuda a perceber o estranho mundo em que vivemos. Já há 8 anos, Tony Judt percebia o sopro do vento. Importa citá-lo:
«Para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, a legitimidade e a credibilidade de um sistema político assenta não em práticas liberais ou formas democráticas, mas na ordem e previsibilidade. Um regime autoritário e estável é muito mais desejável para a maioria dos cidadãos do que um Estado democrático falhado. Até a justiça provavelmente conta menos do que a competência administrativa e a ordem nas ruas. Se pudermos ter democracia teremos. Mas, acima de tudo, queremos estar seguros. Com o aumento das ameaças globais, os encantos da ordem só aumentarão».
Tony Judt, um dos historiadores mais importantes do pós-Guerra, a alertar-nos para o esboroar do contrato social que nos deu, e ainda dá, razoáveis garantias de segurança, estabilidade e justiça.
É patente a dificuldade dos governos em lidar com novos desafios, como as migrações globais, a evolução tecnológica, a insegurança e a instabilidade financeira e económica internacionais. Daí a disponibilidade de muitos atingidos por intempéries de diversa índole para aceitarem outras abordagens políticas.
A antiga secretária de Estado americana Madeleine Albright, a primeira mulher a exercer o cargo, escreveu um livro em que lança um olhar sobre o nosso mundo de hoje. Chama-se «Fascismo – Um Alerta» e analisa a emergência de regimes isolacionistas e autoritários à luz da memória de quem viveu a II Guerra Mundial. Nos paralelos que traça com os nossos dias, lembra que os primeiros passos do fascismo são a tentativa de monopolizar o fluxo de informação, a propaganda, o controlo dos media e do que pode ser ensinado nas escolas. Numa entrevista ao Expresso, deixou palavras que importa sublinhar muitas vezes:
«Inquieta-me aquilo que parece ser um esforço deliberado para desacreditar o jornalismo profissional e para espalhar confusão sobre a própria definição de ‘verdade’ e ‘factos’. O fascismo cresce onde as pessoas são convencidas de que toda a gente mente e que é precisa uma mão forte para impor ordem num mundo caótico. É por isso que os media corajosos e independentes são tão essenciais à democracia».
Face a tudo isto, talvez nunca como hoje o jornalismo tenha tido tanta razão de ser, nunca tenha sido tão urgente e necessário e, paradoxalmente, esteja tão enfraquecido e impotente. Para vivermos, para tomarmos decisões fundamentadas, para distinguirmos o trigo do joio, precisamos de notícias credíveis, que nos digam o que se passa, não apenas onde, quando, quem, mas também como, porquê e em que contexto. E para este efeito precisamos de jornalistas profissionais, que tenham condições para tornar interessante e relevante aquilo que é significativo, e que façam da disciplina da verificação a essência do seu trabalho.
Faz falta bom jornalismo, jornalismo de qualidade, útil, distanciado dos poderes, independente, fiável, plural. Sem ele tolhe-se a liberdade e não há democracia plena que resista.
Termino com um alerta, um alerta do já citado professor de Harvard Daniel Ziblatt:
«Hoje, as democracias morrem com subtileza, não com golpes de Estado e tanques na rua. Estar vigilante é uma obrigação de todos.»
E estar vigilante, digo eu, é estar bem informado, atento ao espaço público e armado de sentido crítico.
O maior inimigo da liberdade é a ausência de sentido crítico.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor